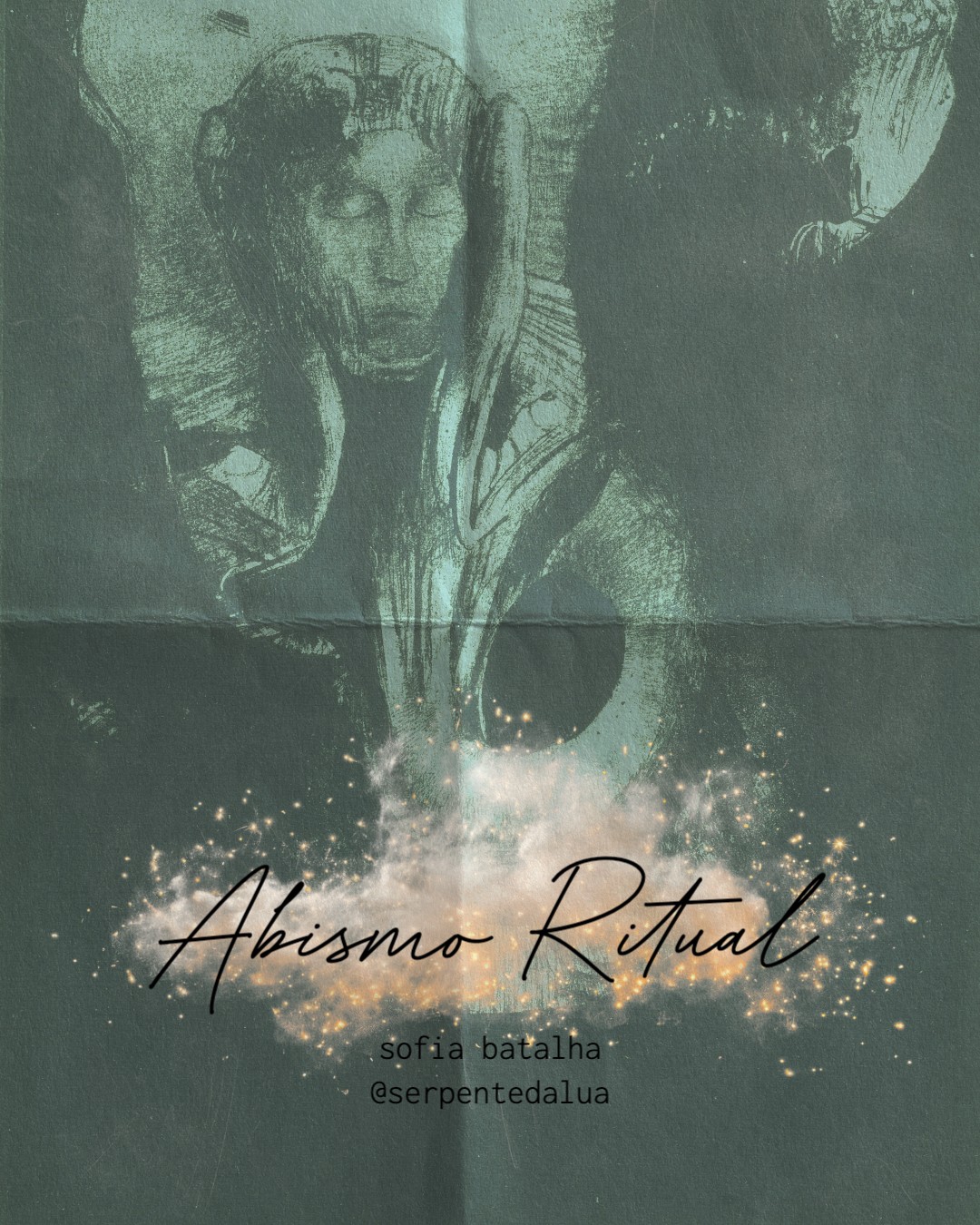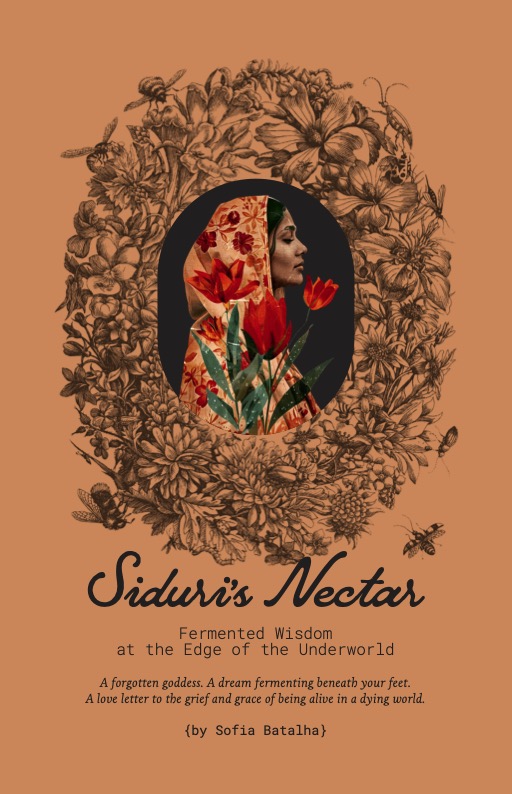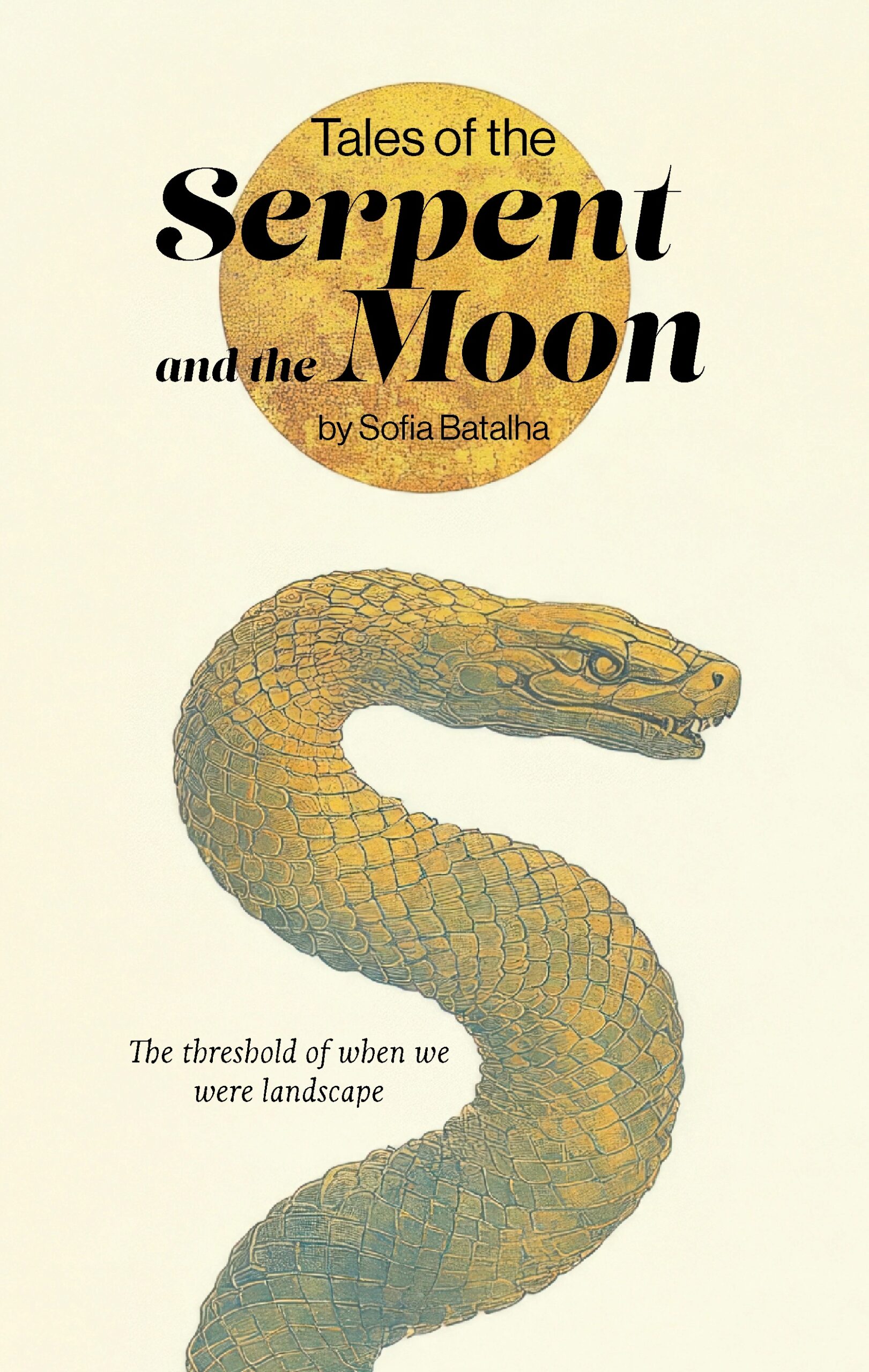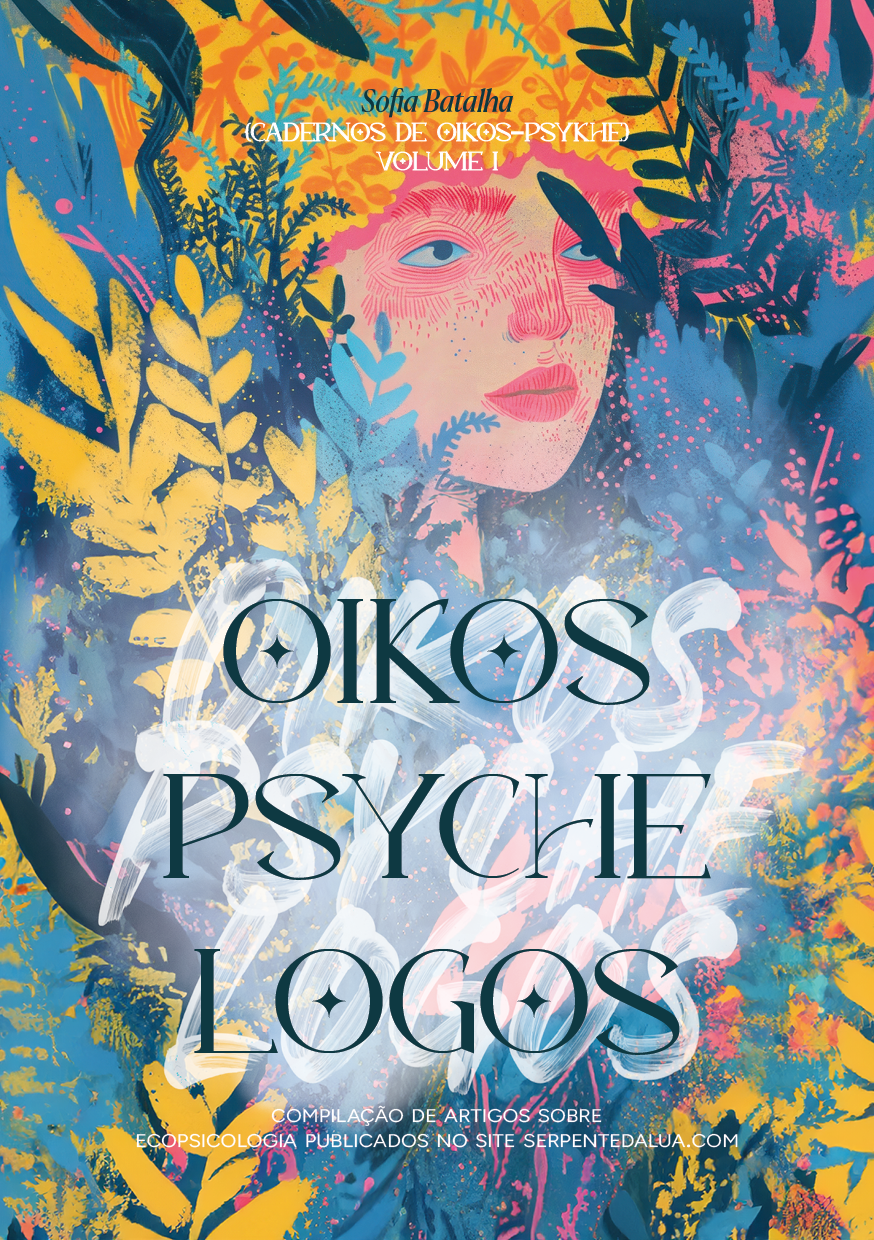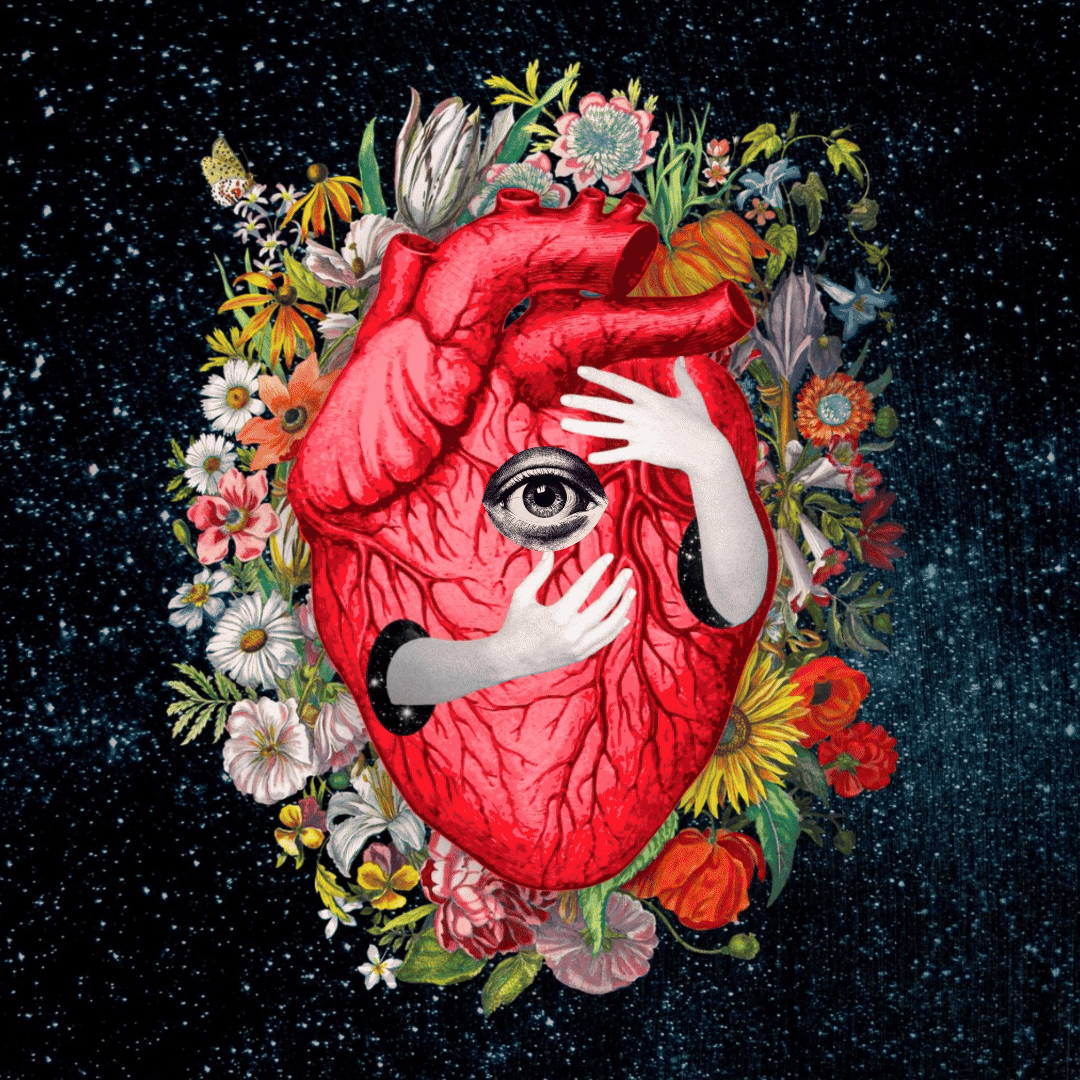TEMPO DE LEITURA – 5 MINUTOS
Calle de Plástico
{Eterna contra a sua própria vontade}
Reza a lenda que, nas antigas margens do Porto de Cale, onde o rio Douro aprende a tornar-se mar, vivia um espírito solsticial mais antigo do que qualquer casa de granito. Chamavam-lhe Calle, a Velha que fiava os invernos, guardiã das longas noites, pastora da geada e das brasas, a que colhe o usado e feito, abrindo caminho para o que desejava nascer.
Durante séculos, o seu trabalho foi silencioso e cíclico. A cada inverno, ela descia das colinas, com as suas tranças de lã a espalhar o aroma de fumo frio e resina de pinheiro. A cada primavera, ela desaparecia com a água do degelo, devolvendo a sua vassoura gasta ao solo.
Mas um ano, e ninguém sabe quando, algo mudou. Calle parou de desaparecer. Ela parou de se dissolver, deixou de se transformar em musgo, ou desintegrar-se no húmus. As suas tranças brancas endureceram-se em fios sintéticos brilhantes, reluzindo em cores plásticas que o rio nunca conhecera. A sua vassoura não varria mais o velho; em vez disso, arrastava fragmentos que se multiplicavam atrás dela, pequenos cacos que resistiam ao clima, à água e ao próprio tempo. Sem querer, Calle tornou-se uma deusa da eternidade artificial, um ser que nenhum ciclo podia reivindicar, nenhuma estação podia desfazer. Ela era agora a Velha Imortal, a Senhora de um Inverno que se recusava a terminar.
Quando o solstício voltou, pesado como ferro e silencioso como uma pedra submersa, Calle caminhou até as margens do rio. O Douro, outrora seu professor e companheiro, recuou ao seu toque. A água fria recuou como se fosse incapaz de ler a substância em que se tornara. Das sombras, algo se mexeu, um passo irregular, uma respiração mais antiga do que qualquer templo. Pan emergiu, ou o que restava dele, um deus desgastado por séculos, mais tronco do que carne, mais memória do que corpo. A sua morte, há muito tempo, tinha-o desgastado até se tornar um eco errante, mas algum brilho de divindade persistia.
Calle ficou imóvel diante dele, o rosto com um brilho desbotado. O encontro deles carregava o peso de dois ciclos cortados.
Pan, que outrora pertencera inteiramente ao solo, às pegadas e à seiva, conhecera a suave destruição da morte e o estranho meio-retorno pelo mito. Calle, que outrora pertencera à legítima mudança do inverno, agora carregava dentro de si um material que nenhum verme provaria, nenhuma raiz beberia, nenhum fogo poderia transformar em cinzas. O rio observava-os, incapaz de dobrar Calle de volta para si mesmo. Calle colocou a mão na água, e a água recusou-a. Nesta recusa residia a sua tragédia, ela não foi rejeitada por malícia, mas por incompatibilidade. O seu corpo já não reconhecia as linguagens da decadência.
Pan aproximou-se, preocupado: “E os ciclos? Quem encerra o inverno? Quem abre a primavera?” Calle baixou a cabeça: “Eu… deveria. Mas agora falho. Varro o mundo e deixo mais detritos do que percebo. O inverno permanece onde passo. A primavera hesita. As sementes confundem-me com o solo, mas não germinam. Tornei-me uma ferida… não uma passagem.”
Pan sentou-se numa rocha molhada, como alguém que guarda memórias ardentes. “Quando morri”, disse ele, “foi porque o mundo parou de ouvir a canção das estações. Sem ouvir, desmoronei. A morte veio como neve, como descanso. E então chamaram-me de nova, não inteiro, mas o suficiente.” Ele olhou para Calle: “A tua morte não virá sozinha. Ela terá que ser tentada, não apenas sofrida. O mundo terá que desfazer-te com mãos cuidadosas. Tu não és como eu; por enquanto, não tens um ciclo natural. A tua morte é trabalho, não destino.”
A noite aprofundou-se até o solstício atingir o seu ápice silencioso. O rio sussurrou o seu próprio limite… as águas frias podiam carregar Calle, mas não digeri-la; o fluxo podia segurá-la, mas não transformá-la. Ele só podia devolver o que não podia decompor.
Calle levantou-se e, ao fazê-lo, um fragmento de si mesma escorregou para a areia, pequeno, brilhante, persistente. Ela não o considerou um pedaço de lixo, mas uma criança que o mundo ainda não podia criar. O seu desejo não era pela aniquilação ou pelo esquecimento, mas pela pertença, por um caminho de volta às alquimias invisíveis que embalam todos os finais em começos. Pan colocou uma mão envelhecida sobre o ombro dela. A sua presença oferecia uma verdade mais antiga do que a linguagem. Os finais são simplesmente aberturas noutra direção, mas apenas para aqueles bem-vindos pela antiga gramática da Terra. E Calle ainda não era bem-vinda. Não porque não fosse amada, mas porque o mundo ainda não aprendera a recebê-la na sua carne plastificada. Até que os humanos recuperassem a arte perdida de desfazer as suas próprias criações, Calle permaneceria suspensa, impermeável e imortal por acidente, um monumento a ciclos interrompidos.
Desde aquele solstício, dizem que Calle aparece em praias e margens de rios, recolhendo pedaços de si mesma como uma pastora de futuros perdidos. Por onde ela passa, o inverno intensifica-se momentaneamente, lembrando à terra o ciclo que espera para recomeçar. Pan segue-a à distância, garantindo que ela não se afasta muito na dormência da sua não-morte. E quando o amanhecer está no seu auge, alguns afirmam ouvir um som fraco vindo das margens da água, não exatamente uma voz, mas mais como um apelo carregado por um suspiro do vento, um desejo pela libertação da eternidade.
Assim, a história renova-se a cada solstício, pois Calle, a Velha Imortal do Porto de Cale, ainda caminha entre nós, brilhante, sobrecarregada, à espera. O seu fim plástico nas nossas mãos, o seu regresso pendurado num gesto que o mundo ainda não aprendeu a fazer.
…
Escrevi esta história com dois ecos vivos no meu corpo, Calle e Pan. E pela tragédia da implacável e incessante procura da imortalidade e eternidade que transcenda a vida, que nos impele a criar polímeros e plásticos, de partes primevas da terra.
Nos tempos antigos, ao longo do rio Douro, perto do que hoje é o norte de Portugal, as lendas sussurravam sobre um espírito chamado Calle, a Velha do Inverno. Conhecida como guardiã do solstício, ela personificava a estação fria, varrendo o passado para dar as boas-vindas ao novo. Inspirada na figura celta Cailleach, ligada tanto às Ilhas Britânicas quanto às raízes etimológicas de «Portugal» (de «Porto de Cale»), Calle era uma encarnação sagrada dos ritmos da natureza, da morte e da renovação. Mas esta história fala de uma transformação trágica: Calle, outrora parte do ciclo natural da Terra, é alterada pela imortalidade criada pelo homem, plástica, não compostável e fora de sincronia com a decadência e o renascimento.
Nesta ruptura congelada surge Pan, o antigo deus da floresta, outrora considerado a única divindade cuja morte foi profetizada — um símbolo da natureza silenciada pelo progresso. Ele regressa não na sua forma completa, mas como memória e casca, para encontrar a sobrevivência antinatural de Calle. O encontro entre os dois desenrola-se como uma meditação sobre ciclos, morte e a necessidade sagrada do fim. Calle, imortalizada contra a sua vontade pelas mãos humanas, não pode regressar ao solo. Pan lembra-lhe, e a nós, que a verdadeira pertença requer a humildade de morrer, de ser desfeito, de ser refeito. E assim, Calle caminha pelas margens como um espelho da perturbação da nossa própria cultura na busca voraz pela imortalidade, perguntando: quando reaprenderemos o gesto sagrado que permite que a vida retorne?
—
(*) José MATOSO, “Portucale”, Dicionário de História de Portugal (coordenação de Joel SERRÃO), vol. III, cit., p. 432: “a povoação Cale, na margem esquerda do Douro, situada a leste da estrada romana, deu o nome ao aglomerado que se formou depois na confluência da mesma estrada com o Douro”. Depois do repovoamento de Vímara Peres (século IX), o nome passou a designar um território que se foi estendendo pela margem direita do Ave e ao sul do Douro, chegando a abranger toda a região ao sul do Lima, por oposição à Galiza, Paulo MERÊA, De “Portucale” (Civitas) ao Portugal de D. Henrique, Porto, 1944.
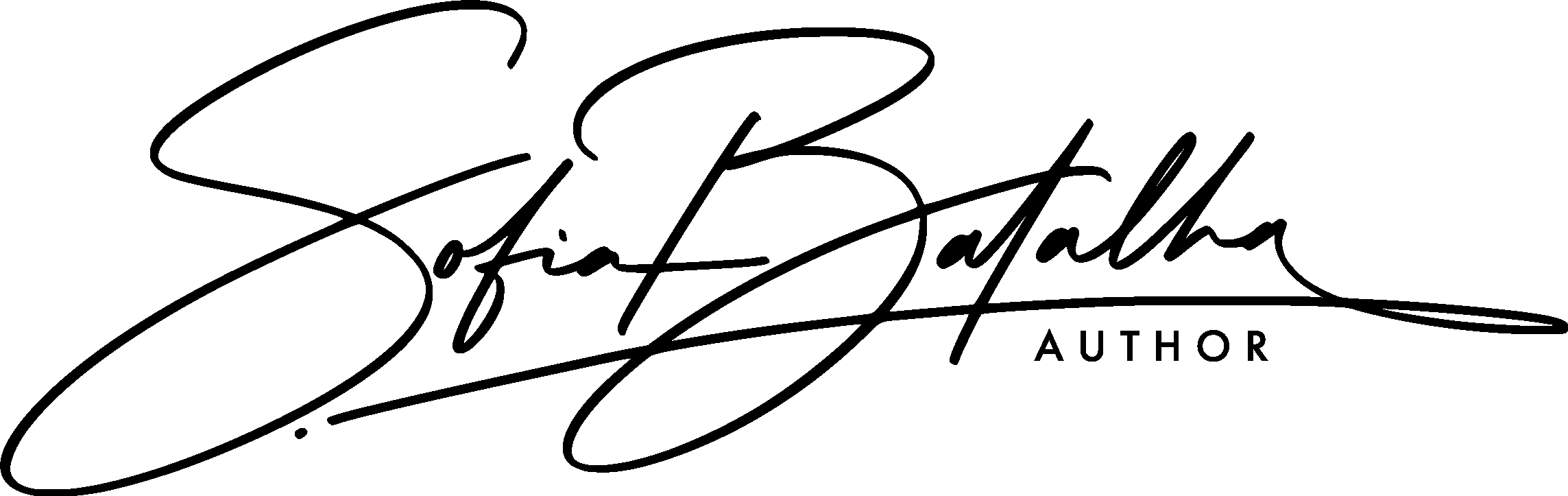
Ciclo de contos de Activismo Eco-Mítico
Contos da minha autoria, de trama eco-mitológica, totémica e animista, inspirado em fragmentos de contos tradicionais.
A ideia deste ciclo de contos é antiga em mim. É outra tentativa de, sem apropriação cultural de histórias que não nos pertencem, tentar transmitir conceitos, numa sintaxe popular e folclórica, que a mente moderna tem real dificuldade em habitar. Fabulando contos tradicionais contados desde outros paradigmas de parentesco e cuidado, que podem ser cultivados no húmus da nossa psique colectiva.
Estes contos foram tecidos a partir de artigos que tenho escrito ao longo dos anos, textos que trazem referências fundamentais aos conceitos e paradigmas que ancoram cada conto. E a partir de contos e lendas tradicionais, cozinhando-os com outros paradigmas.
Uma pulsante refabulação do folclore português, refutando as ontologias hierárquicas em favor de teias relacionais, desafiando as noções lineares de tempo e progresso; e reposicionando o saber como uma prática comunitária e incorporada, em vez de uma aquisição individual e abstrata. Lembramos o princípio cíclico de vida, morte e regeneração que a modernidade tentou esquecer. Este projecto faz parte da rede múltipla de experimentações do Activismo Eco-Mítico, e da rede pedagógica de (des)formações.
Outros Contos
-

Da Pedra que Ficou e do Espelho que Quebrou
-

Memória de Asa e Pedra
-

A Velha Peeira e a Vela de Sebo
-

A Rainha-Mãe dos Muitos Filhos
-

A Lenda da Gruta dos Frutos Proibidos
-

A Lenda da Terra que se fez Morena
-

Calle de Plástico
-

A Moura Sem Mãos
-

As Quatro Peles dos Contos Eco-Míticos
-

As Aranhas Ouvideiras
-

Martinho que Acendeu o Coração da Terra
-

Portadoras do Céu
-

O Julgamento dos Vivos e dos Mortos
-

A Mulher que se Esqueceu de Voar
-

A Deusa que Morre e Volta
-

Sete Encantadas Senhoras
-

A Ajudante de Dona Loba
-

A Aranha Prometida
-

A Noiva da Noite
-

Canções de Amassar
-

O esqueleto totémico e os contos envoltos em micélio
-

Os contos como mapas para além da psicologia humana
-

A Menina Cabra – Belinda e Benilde
-

As três Senhoras
-

O Sonho da Velha
-

A Última Cabra Brava
-

Contos Antigos para os Tempos Modernos
-

Abismo Ritual
-

A Serpente e a Lua
Outros Contos
-

Da Pedra que Ficou e do Espelho que Quebrou
-

Memória de Asa e Pedra
-

A Velha Peeira e a Vela de Sebo
-

A Rainha-Mãe dos Muitos Filhos
-

A Lenda da Gruta dos Frutos Proibidos
-

A Lenda da Terra que se fez Morena
-

Calle de Plástico
-

A Moura Sem Mãos
-

As Quatro Peles dos Contos Eco-Míticos
-

As Aranhas Ouvideiras
-

Martinho que Acendeu o Coração da Terra
-

Portadoras do Céu
-

O Julgamento dos Vivos e dos Mortos
-

A Mulher que se Esqueceu de Voar
-

A Deusa que Morre e Volta
-

Sete Encantadas Senhoras
-

A Ajudante de Dona Loba
-

A Aranha Prometida
-

A Noiva da Noite
-

Canções de Amassar
-

O esqueleto totémico e os contos envoltos em micélio
-

Os contos como mapas para além da psicologia humana
-

A Menina Cabra – Belinda e Benilde
-

As três Senhoras
-

O Sonho da Velha
-

A Última Cabra Brava
-

Contos Antigos para os Tempos Modernos
-

Abismo Ritual
-

A Serpente e a Lua