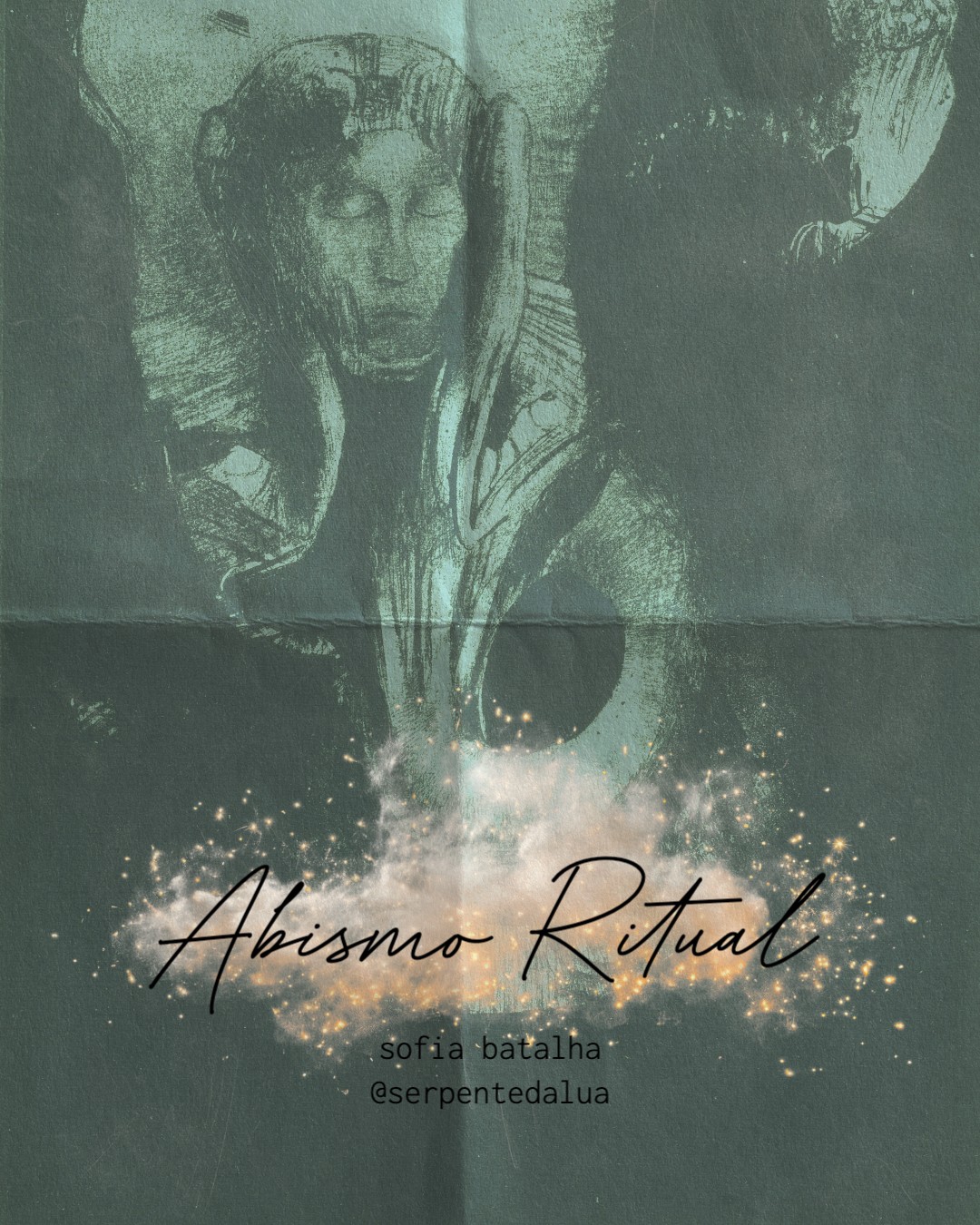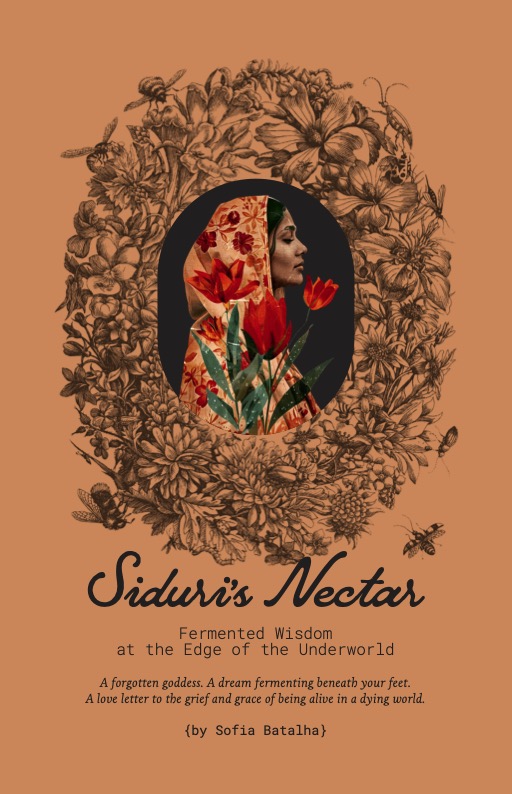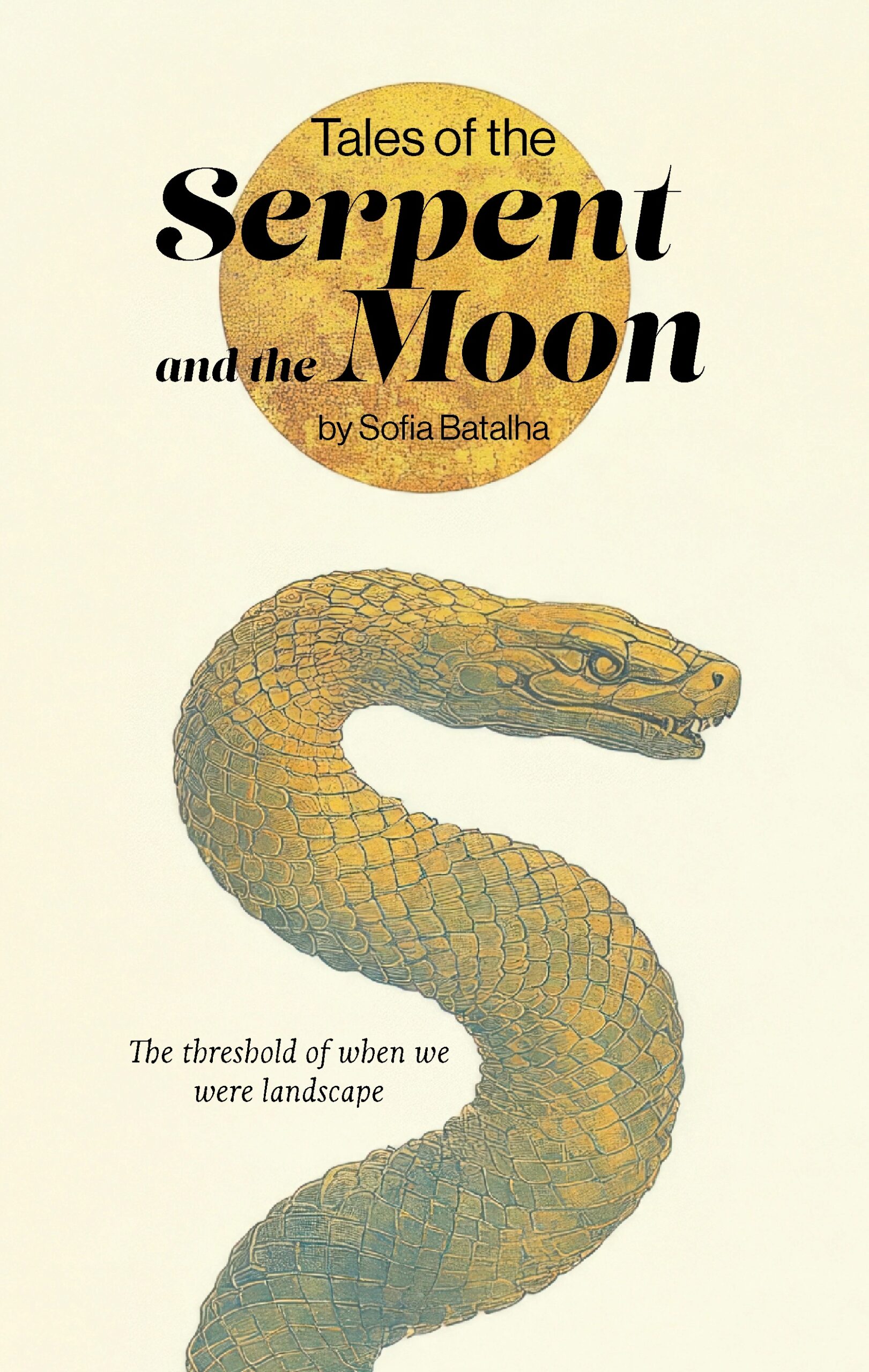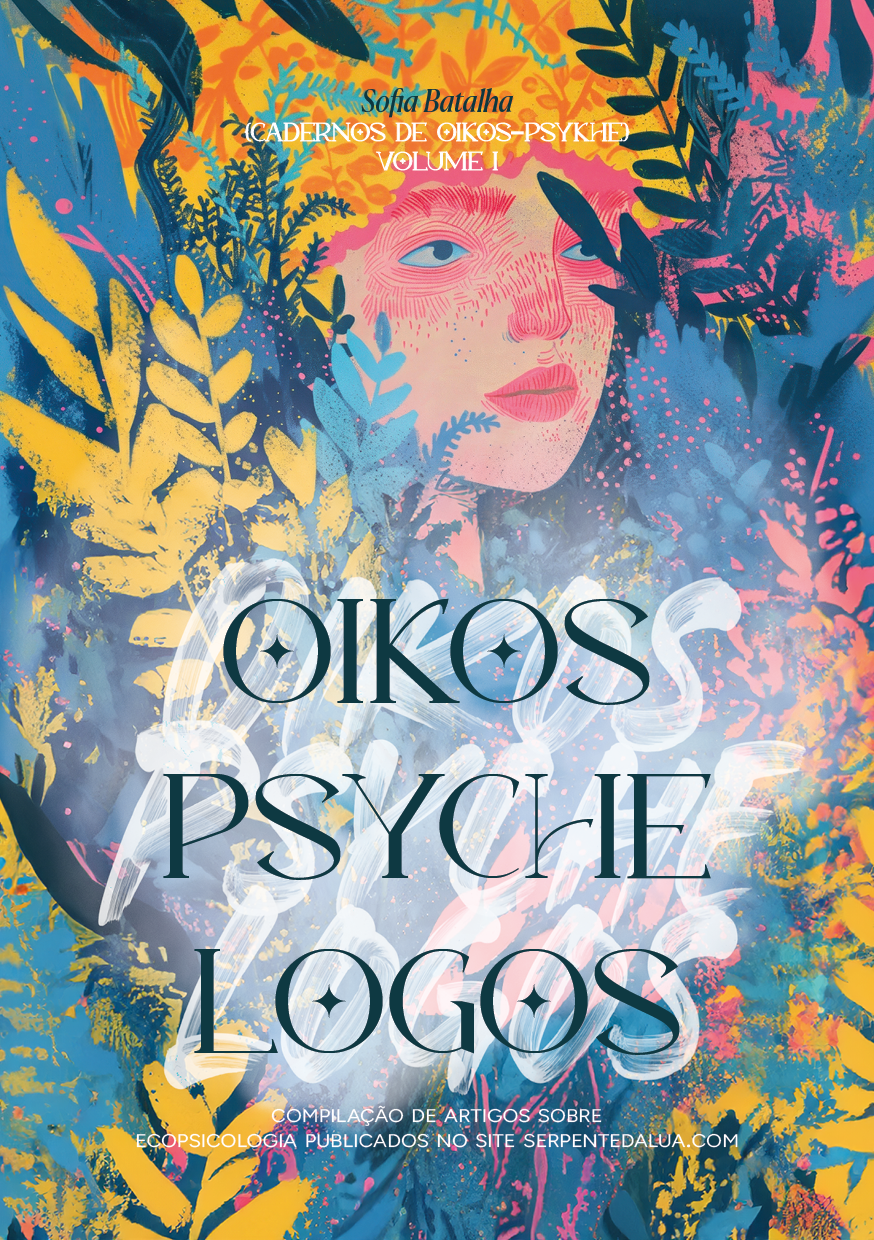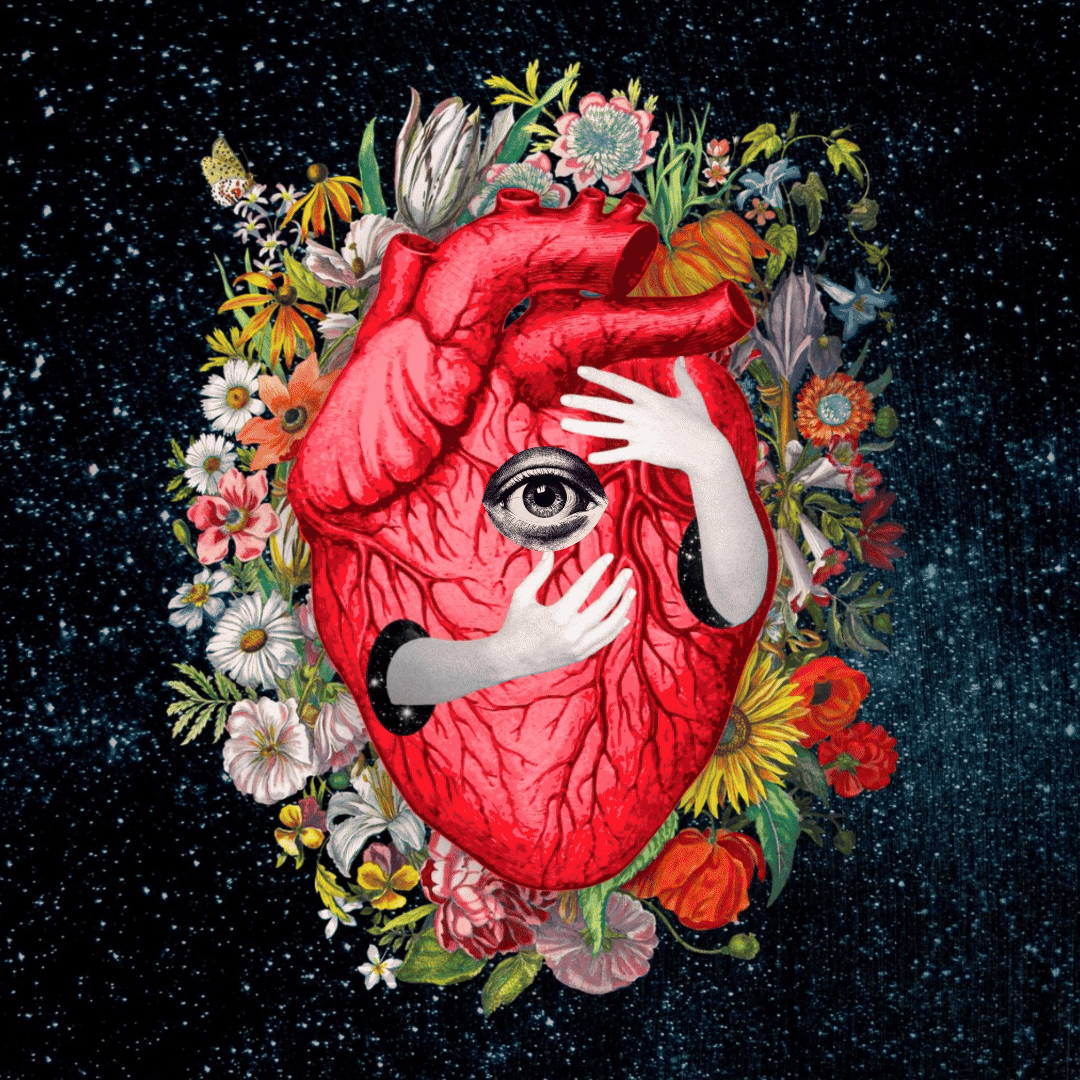Rezos do Vento e do Barro
Edições Corpo-Lugar
Entre lume e névoa, as palavras voltam a ter corpo.
Aqui, o ego é barro que respira, o colonizado é raiz que recorda, o pensar é vento que desaprende a mandar.
Cada conto reza o mundo com a voz da terra viva, onde o humano moderno se desfaz em húmus e o mito volta a ensinar o real.
TEMPO DE LEITURA – 3 MINUTOS
A partir do conto mourisco da donzela sem mãos, Carcayona, e do luto ecológico teci um conto e algumas notas.
Originalmente, “Carcayona” é um conto em Aljamía (ou alfabeto Mourisco), o castelhano ou aragonês antigo escrito em árabe, da direita para a esquerda. Aljamía era usada pelos mouriscos, sendo uma língua clandestina e secreta devido às perseguições e inquisição. Esta escrita era escondida debaixo das tábuas do chão, nas paredes, e à medida que os edifícios foram demolidos, estes escritos secretos foram descobertos. Carcayona é uma dessas escritas, também conhecida como “A noiva sem mãos”, “O pomar” ou “Mãos de prata”.
A Moura Sem Mãos
{Esta NÃO é a história original de Carcayona; é apenas uma fabulação inspirada nas vibrações sob as tábuas do chão.}
Reza a lenda que, no tempo em que as pedras ainda tinham sangue e os riachos sabiam guardar segredos, vivia no fundo de uma fraga tremida a velha Carcayona, a Moura sem mãos, a do Luto Vivo, aquela que ensina a morrer e a renascer em movimento.
Dizem as velhas que, numa madrugada sem cor, quando o mundo parecia ter perdido o jeito de se encostar uns aos outros, humanos, bichos, árvores e ventos começaram a sentir uma mesma dor funda. Era como se o valor tivesse fugido de dentro do peito do mundo. Cada qual sofria sozinho, sem saber que o sofrimento era de todos. Só a Carcayona sabia.
Foi então que ela abriu a fenda do monte, aquela racha que uns chamam ferida e outros chamam ventre, e chamou cada ser pelo seu nome antigo: os carvalhos côncavos, os javalis cansados, a raposa parida de noite, o ribeiro cheio de lodo, e também aquela gente muito moderna que tinha esquecido como se chora com o corpo inteiro.
Entraram todos.
Lá dentro não havia luz nem escuridão, só o respirar coletivo, lento, compassado. A Carcayona, feita de barro e saudade, disse-lhes: “Se querem sarar, aprendam primeiro a não sarar depressa. O luto não é para despachar. É para acompanhar.” E assim começou a travessia.
A primeira prova veio com o eco das perdas. Cada ser tinha de dizer em voz alta o nome do seu desaparecido: o rio murmurou as suas margens comidas, o sobreiro contou os seus ramos queimados, a mulher sussurrou o pássaro morto na estrada. E quando cada um disse o seu, descobriram que a dor de um era parecida com a dor do outro. Era só o mundo a confessar-se pela boca deles.
“Dor partilhada não afunda,” repetia a Carcayona, “dor escondida apodrece.”
A segunda prova foi a do Corpo-Pedra. Tinham de pousar no chão as mãos, a testa, o peito, e deixar que a terra lhes devolvesse aquilo que o tempo lhes roubara: o peso próprio. Muitos tremeram, porque a mente moderna desaprende o encosto … quer tudo leve, rápido, limpo. Mas a terra empurrou de volta o necessário: uma lentidão fértil.
“Quem cai no chão, se escuta, volta inteiro,” dizia a velha, rindo como quem já viu muito.
A terceira prova foi a da Responsa, palavra antiga que vinha do tempo em que tudo respondia a tudo. Ali tinham de reconhecer a parte que lhes cabia no estrago, não para se afundarem em culpa, mas para reencontrarem o fio da ação. A raposa falou dos ninhos que roubara sem fome, a mulher contou das vezes que virou a cara ao lixo no rio, o vento admitiu as sementes que não soube levar mais longe. E a Carcayona, de olhos como poços, murmurava:
“Responsa não é seta que acusa, é raiz que prende ao chão. Quem se sabe parte da perda, sabe-se parte da cura.”
Quando as três provas terminaram, nenhum deles tinha “resolvido” coisa nenhuma. Nada estava arrumado, nada limpo, nada fechado. E ainda assim… algo respirava melhor.
Ao saírem da fenda, perceberam que não caminhavam sozinhos. A dor movia-se entre eles como água de rega, de um para o outro, de volta ao mundo. Era luto em movimento, rumor vivo, não peso morto. E cada passo que davam fazia brotar ervas miúdas: poejo para o desalento, funcho para o medo, hissopo para limpar o espírito aflito. As ervas sabiam. As ervas sempre sabem.
Dizem os velhos que, desde esse dia, a Carcayona deixou de ser só figura de assombro. Tornou-se guardiã do Luto-que-Gera, aquele que não paralisa nem apressa, só acompanha. E que, quando o mundo fica duro e seco, ela abre de novo a sua fenda para ensinar que:
— o sofrimento é coletivo, mesmo quando dói sozinho;
— a perda é chorável, mesmo quando não é humana;
— a metamorfose começa no chão, nunca na ideia;
— e a responsabilidade é o laço que nos volta a entrelaçar com tudo o que vive.
Reza a lenda que ainda hoje, quando alguém entra na serra com o peito a arder de mágoas, a Carcayona sopra um vento miúdo que diz:
“Chora com o mundo, não contra ele.”
E o ciclo recomeça, sempre igual, sempre diferente, como um rio que nunca volta, mas nunca deixa de ser rio.
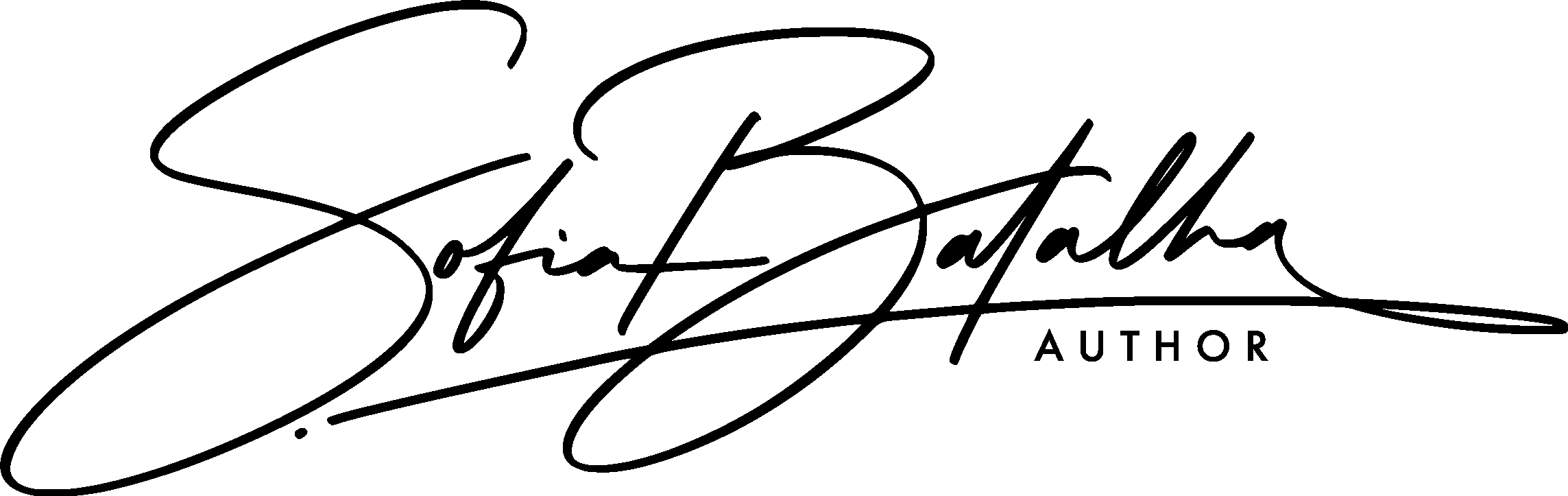
✦ A Metamorfose de Carcayona: Luto como Resistência Enraizada
Como Carcayona, a jovem sem mãos que perdeu tudo por escutar a voz do seu anjo, também nós vivemos o exílio do vínculo e a amputação da agência. As mouriscas, que como ela ocultaram cultura, fé e intimidade sob véus de sobrevivência, incorporaram uma resistência íntima, não como guerra aberta, mas como luto contínuo em segredo, como ritual escondido no gesto doméstico, debaixo das tábuas do chão (onde o conto de Carcayona foi encontrado séculos depois). Aqui, a perda não é fim, é dobra, ciclo e onda.
O luto ecológico, tal como o das mouriscas, não é apenas um pesar pelo que se perdeu, mas um modo de continuar em mundo enquanto se carrega as ausências, os interditos, os silêncios impostos. Como Carcayona, empurrada para o ermo, encontramos no exílio do sentido um lugar fértil onde os fantasmas da perda se tornam sementes de metamorfose. A dor não se resolve, transfigura.
O luto, longe de ser privado e linear, é uma memória coletiva em movimento, uma recusa de esquecer, uma fidelidade às ausências que ainda nos fazem e que exigem que sejamos suas continuadoras. O eco da Carcayona não nos chama ao resgate por príncipes ou finais felizes, mas a fazer do mutilado um campo de germinação. A sua história, e das mouriscas que preservaram o inominável em segredo, ensina-nos que há sabedorias que só germinam quando choradas com tempo, coletivamente, com raízes fincadas no chão onde se sobreviveu em silêncio.
✦ Arquétipo de luto resistente e metamorfo
Carcayona, neste conto não é só personagem, é metáfora viva de uma pedagogia do luto coletivo, incorporada e ecológica. A Carcayona, a Moura sem mãos, é a encarnação da perda de agência, de valor intrínseco, de vínculo com o mundo natural e ancestral. A sua mutilação não é só física, é civilizacional. Ela guarda nas dobras da sua ausência aquilo que o mundo moderno amputou: o direito de sentir, de pertencer, de estar em luto com dignidade. Tal como o luto ecológico, o exílio da Carcayona não é só pessoal: é coletivo, ancestral, vivo em cada corpo que sente demais e não sabe porquê.
O conto é um ritual narrativo de restituição, do vínculo, da memória relacional, da responsabilidade partilhada. A fenda que a Carcayona abre na terra é o exato oposto do bypass espiritual, não é fuga do sofrimento, mas mergulho no ventre comum da dor partilhada. Cada uma das três provas que propõe ressoa profundamente com os três eixos do luto coletivo:
1. A prova do nomear das perdas = legitimação da dor coletiva e não-humana – Ao pedir que cada ser nomeie o que perdeu, o ramo queimado, o ninho roubado, o pássaro morto, Carcayona está a ampliar o círculo do que é chorável. Está a fazer aquilo que a cultura moderna não sabe fazer: legitimar o luto por aquilo que não é humano, linear, ou resolvível. Este é o início do “luto como consciência crítica”.
2. A prova do Corpo-Pedra = desaceleração, presença somática, restituição de peso próprio – Este momento é puro antídoto contra a lógica do produtivismo do “ultrapassa, resolve, ressignifica”. Deitar-se no chão, escutar o corpo, receber o peso perdido: tudo isso aponta para a reintegração somática do trauma ecológico. A terra devolve o que o tempo capitalista roubou, lentidão, gravidade, pertença.
3. A prova da Responsa = compostagem da culpa em responsabilidade relacional – A ideia de “responsa” como laço e não como seta espelha lindamente a crítica à individualização da culpa. Carcayona ensina que reconhecer a própria parte no estrago não é autoflagelação espiritual, mas reconexão com a teia da vida. Não há expiação sem enraizamento. E só quem se reconhece parte da ferida pode ser parte da cura.
Aconselho a leitura do livro: “The Handless Maiden Moriscos and the Politics of Religion in Early Modern Spain” (Mary Elizabeth Perry).
Ciclo de contos de Activismo Eco-Mítico
Contos da minha autoria, de trama eco-mitológica, totémica e animista, inspirado em fragmentos de contos tradicionais.
A ideia deste ciclo de contos é antiga em mim. É outra tentativa de, sem apropriação cultural de histórias que não nos pertencem, tentar transmitir conceitos, numa sintaxe popular e folclórica, que a mente moderna tem real dificuldade em habitar. Fabulando contos tradicionais contados desde outros paradigmas de parentesco e cuidado, que podem ser cultivados no húmus da nossa psique colectiva.
Estes contos foram tecidos a partir de artigos que tenho escrito ao longo dos anos, textos que trazem referências fundamentais aos conceitos e paradigmas que ancoram cada conto. E a partir de contos e lendas tradicionais, cozinhando-os com outros paradigmas.
Uma pulsante refabulação do folclore português, refutando as ontologias hierárquicas em favor de teias relacionais, desafiando as noções lineares de tempo e progresso; e reposicionando o saber como uma prática comunitária e incorporada, em vez de uma aquisição individual e abstrata. Lembramos o princípio cíclico de vida, morte e regeneração que a modernidade tentou esquecer. Este projecto faz parte da rede múltipla de experimentações do Activismo Eco-Mítico, e da rede pedagógica de (des)formações.
Outros Contos
-

Da Pedra que Ficou e do Espelho que Quebrou
-

Memória de Asa e Pedra
-

A Velha Peeira e a Vela de Sebo
-

A Rainha-Mãe dos Muitos Filhos
-

A Lenda da Gruta dos Frutos Proibidos
-

A Lenda da Terra que se fez Morena
-

Calle de Plástico
-

A Moura Sem Mãos
-

As Quatro Peles dos Contos Eco-Míticos
-

As Aranhas Ouvideiras
-

Martinho que Acendeu o Coração da Terra
-

Portadoras do Céu
-

O Julgamento dos Vivos e dos Mortos
-

A Mulher que se Esqueceu de Voar
-

A Deusa que Morre e Volta
-

Sete Encantadas Senhoras
-

A Ajudante de Dona Loba
-

A Aranha Prometida
-

A Noiva da Noite
-

Canções de Amassar
-

O esqueleto totémico e os contos envoltos em micélio
-

Os contos como mapas para além da psicologia humana
-

A Menina Cabra – Belinda e Benilde
-

As três Senhoras
-

O Sonho da Velha
-

A Última Cabra Brava
-

Contos Antigos para os Tempos Modernos
-

Abismo Ritual
-

A Serpente e a Lua
Outros Contos
-

Da Pedra que Ficou e do Espelho que Quebrou
-

Memória de Asa e Pedra
-

A Velha Peeira e a Vela de Sebo
-

A Rainha-Mãe dos Muitos Filhos
-

A Lenda da Gruta dos Frutos Proibidos
-

A Lenda da Terra que se fez Morena
-

Calle de Plástico
-

A Moura Sem Mãos
-

As Quatro Peles dos Contos Eco-Míticos
-

As Aranhas Ouvideiras
-

Martinho que Acendeu o Coração da Terra
-

Portadoras do Céu
-

O Julgamento dos Vivos e dos Mortos
-

A Mulher que se Esqueceu de Voar
-

A Deusa que Morre e Volta
-

Sete Encantadas Senhoras
-

A Ajudante de Dona Loba
-

A Aranha Prometida
-

A Noiva da Noite
-

Canções de Amassar
-

O esqueleto totémico e os contos envoltos em micélio
-

Os contos como mapas para além da psicologia humana
-

A Menina Cabra – Belinda e Benilde
-

As três Senhoras
-

O Sonho da Velha
-

A Última Cabra Brava
-

Contos Antigos para os Tempos Modernos
-

Abismo Ritual
-

A Serpente e a Lua