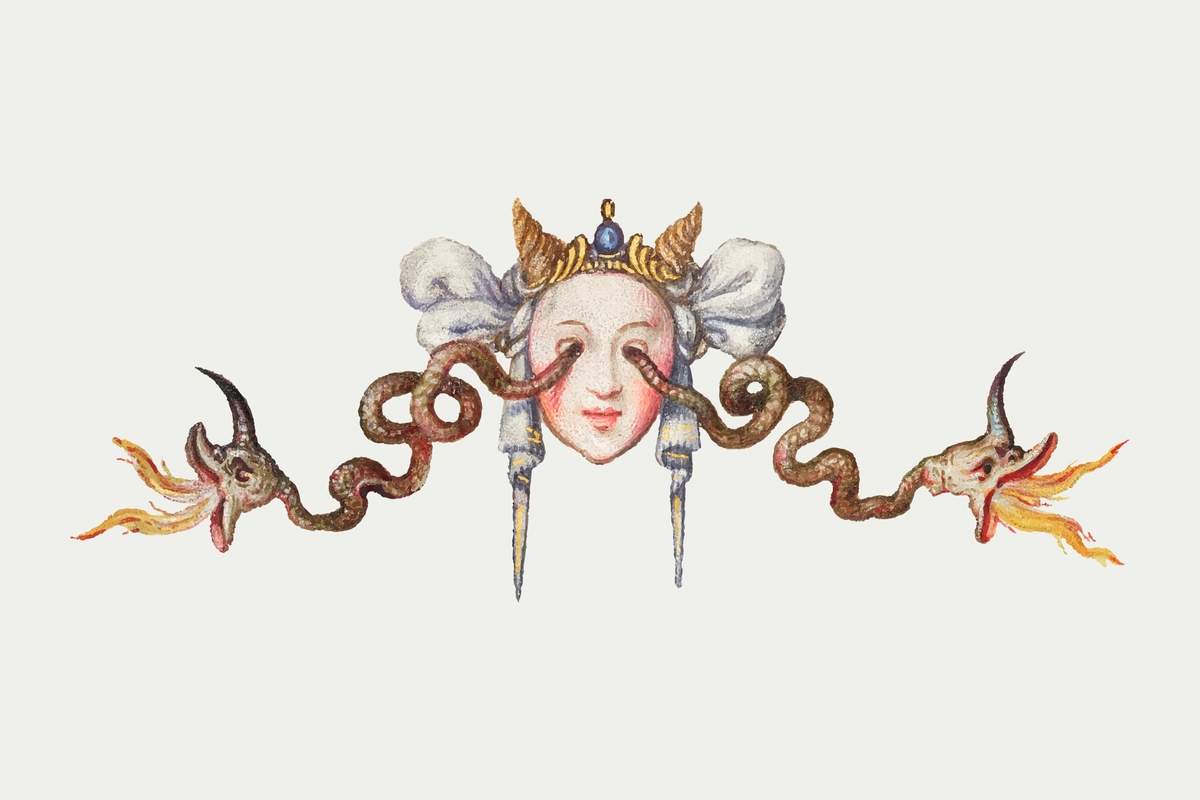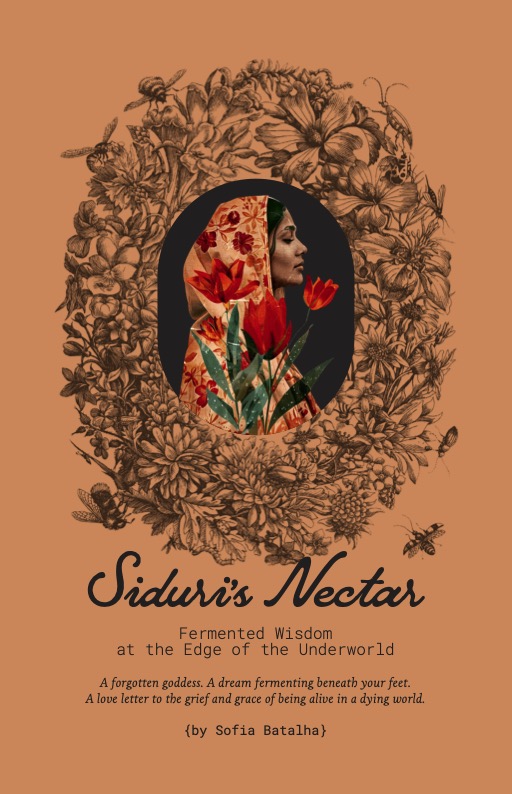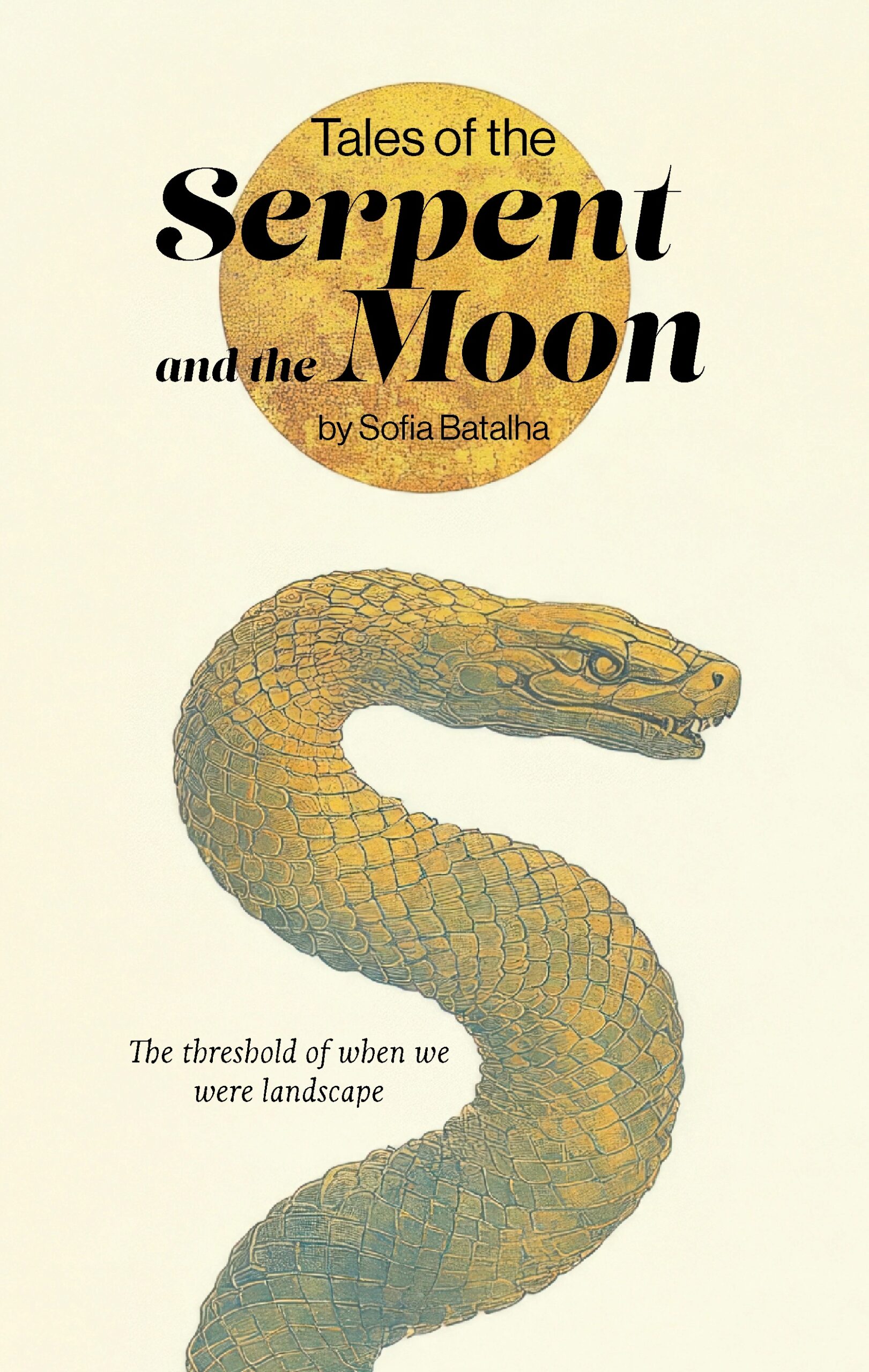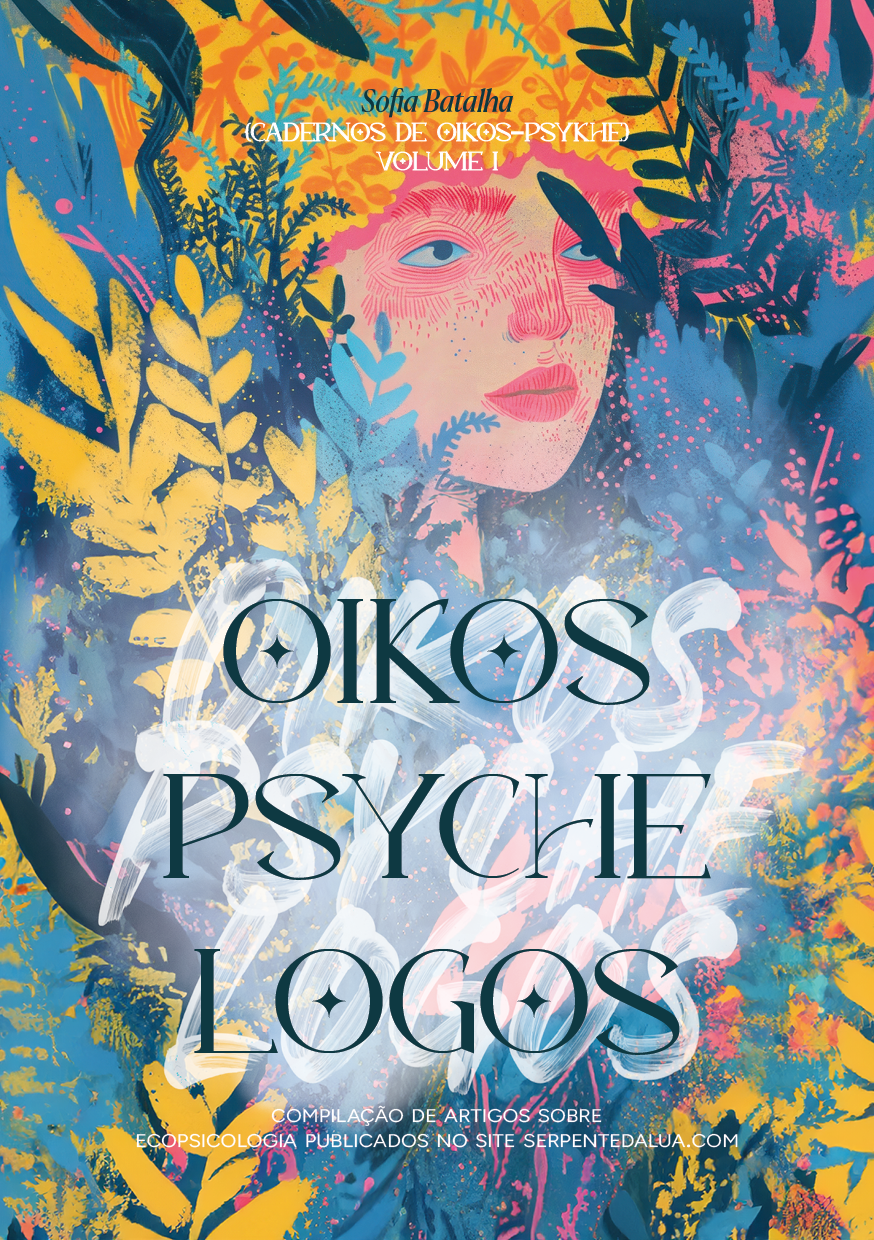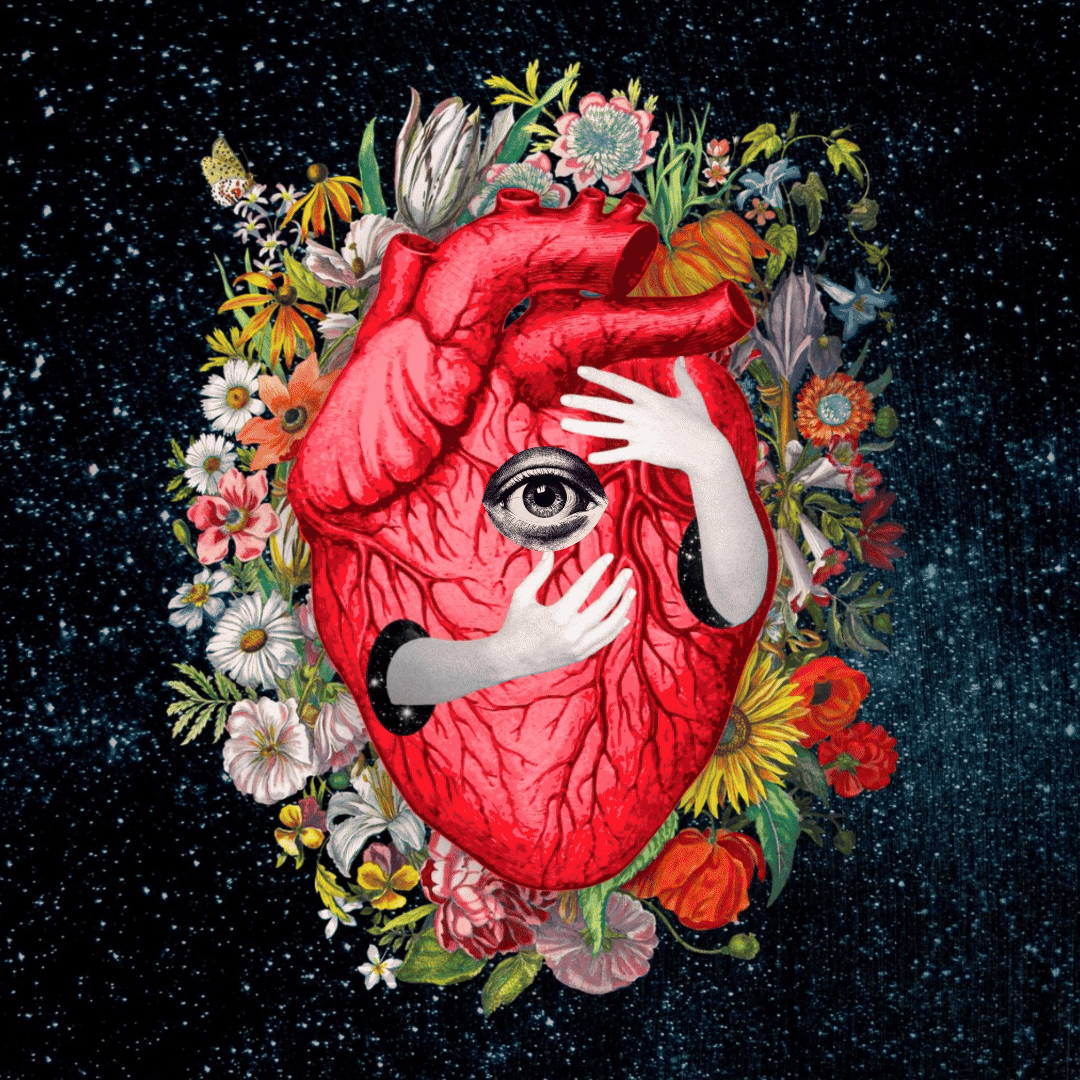O Dia a Seguir da Tempestade
Ecologia da Loucura e do Luto, Corpo Contaminado, Mitologia e o Feminino do Fim dos Mundos
Prefácio de Telma Laurentino
Edições Corpo-Lugar
Se procuras respostas fáceis, este livro não é para ti.
Se vens em busca de certezas, prepara-te para o abalo.
Um livro para quem se atreve a escutar o que apodrece, sem pressa de florescer.
TEMPO DE LEITURA – 6 MINUTOS
Ensinamentos da Tempestade
O Chamamento
A tempestade rasgou o céu e, com ele, o chão. Diante da minha janela, o Cedro-Catedral, uma árvore que me convidou a viver aqui, tombou. A sua queda não foi apenas madeira partida; foi uma ferida de dor profunda que abriu uma fenda para o submundo. Sentimos um desassossego partilhado, um tremor no solo que antes parecia firme. O que fazemos quando a paisagem que nos sustenta se desfaz diante dos nossos olhos?
No meio deste vórtice, recuso-me a desviar o olhar e, no livro O Dia a Seguir da Tempestade, convido a que nos sentemos na boca desta ferida. A mesa está coberta por uma toalha antiga, bordada às cegas por uma avó diagnosticada como louca, manchada de barro, lágrimas e sangue. É um convite a mergulhar nas feridas do nosso tempo, encontrando nos mitos, no corpo contaminado e no feminino indomado uma sabedoria radical para a travessia.
Aqui caminhamos por algumas das ideias mais impactantes e contra-intuitivas desta peregrinação. São faróis acesos na escuridão, não para nos mostrarem um caminho de volta à “normalidade”, mas para nos ensinarem a navegar nas águas turvas do presente, com os pés sujos de lama e o coração aberto ao que germina nos escombros.
A Loucura como Bússola Ecológica
Proponho no livro uma ressignificação radical da “loucura”, especialmente a feminina. Em vez de apenas patologia individual, convido-te a vê-la como uma perceção aguçada, uma sintonia com um planeta doente. O corpo torna-se um oráculo, e os seus “desequilíbrios”, da ansiedade à exaustão, passando pelas dores sem nome, podem ser ecos da febre da Terra.
Esta ideia não é uma abstração poética; tem raízes na história. Nos anos 70, quando trabalhadoras de escritório começaram a reportar um mal-estar coletivo em edifícios novos, construídos com plásticos, solventes e outros sintéticos bélicos, a resposta do sistema patriarcal foi um diagnóstico de “histeria em massa”, como refere Telma Laurentino no Prefácio. A sua patologia, hoje conhecida como “síndrome do edifício doente”, era, na verdade, um alarme corporal contra uma arquitetura tóxica. Eram bússolas de pele viva a apontar para o veneno.
E se a loucura feminina, historicamente calada e manipulada, for também uma sintonização ecológica, um oráculo de um mundo em colapso, uma sabedoria que ainda sabe sentir apesar da anestesia, apatia e dissociação?
Esta perspetiva convida-nos a escutar os nossos “sintomas” de forma diferente. Não como falhas pessoais a serem escondidas, mas como mensagens urgentes de um mundo vivo que comunica através da nossa carne, abrindo os padrões de silenciamento que se repetem dolorosamente.
O Fim da Pureza: O Nosso Corpo é um Ecossistema Contaminado
A busca incessante pela “pureza” é uma ilusão perigosa e pegajosamente meritocrática. Vivemos numa “circularidade tóxica”, onde reabsorvemos o que despejamos no planeta. Os nossos corpos são porosos e permeáveis, inevitavelmente atravessados por microplásticos, pesticidas e metais pesados. Esta contaminação não é uma falha moral, mas um estado metabólico partilhado. A história das mulheres diagnosticadas com “histeria” por sentirem edifícios doentes encontra um eco poderoso na vida de Rachel Carson. Bióloga marinha, Carson denunciou em 1962, no seu livro Primavera Silenciosa, o uso indiscriminado de pesticidas sintéticos como o DDT, biocidas desenvolvidos durante a Segunda Guerra Mundial e depois comercializados em massa, como refere Telma Laurentino.
A resposta do patriarcado corporativo foi violenta, ao tentarem censurá-la, processá-la e rotulá-la publicamente de “louca”, “histérica” e “solteirona”, pondo em causa o seu valor como mulher nunca casada. Ela, tal como as mulheres dos escritórios, estava apenas a dizer uma verdade que o seu corpo sentia e que a sua ciência comprovava.
Aceitar esta contaminação liberta-nos da culpa do “ascetismo neoliberal”, que coloca a responsabilidade sistémica nos ombros do indivíduo. Abrimos, em vez disso, um caminho para um cuidado mais relacional, que reconhece a nossa vulnerabilidade comum num mundo ferido.
O Apocalipse Não é Novidade, é uma Ferida Colonial
A narrativa atual do “colapso” é frequentemente uma perspetiva privilegiada do Norte Global, de quem acreditava que a sua “normalidade” era eterna. O livro critica esta visão, lembrando que para muitos povos indígenas e racializados, o “fim do mundo” é uma catástrofe contínua que começou com o colonialismo. A matança deliberada e massiva dos búfalos no século XIX, por exemplo, não foi apenas um ecocídio, mas uma estratégia militar para destruir a subsistência das nações indígenas das planícies, forçando-as à fome e ao confinamento. No Haiti, as florestas foram dizimadas para alimentar as plantações coloniais de açúcar e café, transformando terra fértil em deserto. Para estes povos, o apocalipse não é uma eco-ansiedade futura.
O colapso não chegou, pois (quase) sempre esteve aqui, em carne viva, mascarado de progresso, como diz Povinelli.
Questionamos então, de quem é o mundo que está a acabar? Reconhecer a profunda assimetria da dor planetária é um passo essencial para qualquer tentativa de cuidado ou reparação que não repita as mesmas lógicas de exclusão.
A Verdadeira Cura Não é Ascender, é Decompor-se no Húmus
Numa cultura dominada pela espiritualidade comercial, que vende transcendência e pensamento positivo, este livro propõe o caminho oposto: a descida. Inspirada no mito da deusa suméria Inanna, que desce ao submundo, a verdadeira sabedoria não vem de escapar à dor, mas de mergulhar nela. É no “lodo”, no caos e na escuridão que encontramos a matéria-prima para a transformação. A decomposição, o ato de deixar morrer o que já não serve, não é um fim, mas um processo fértil que cria o “húmus” de onde algo novo poderá, talvez, brotar.
Escolhemos estar com o caos pela poesia, pelos mitos, pelo corpo e pelos sonhos.
Esta abordagem é um antídoto contra a busca de soluções rápidas e o autoa-perfeiçoamento neoliberal. Convida-nos a encontrar força e beleza na vulnerabilidade, no processo de nos desfazermos e na coragem de ficar com o que é difícil.
Os Monstros Não São Vilões, São os Nossos Guias Indomados
Figuras míticas como Medusa, Lilith ou Tiamat são frequentemente retratadas como vilãs. Recupero estes seres-mito, pois a sua “monstruosidade” é uma resposta à violência e à tentativa de domesticação. Através do conceito de feminis bestialis, estas “bestas” são vistas como portadoras da fúria legítima e do desejo indomado que a ordem patriarcal tentou silenciar.
Mas estes fantasmas não são apenas míticos caminham na história. São Catarina Eufémia, a ceifeira alentejana assassinada por reclamar pão justo. Ou Zacimba Gaba e Luíza Mahin, mulheres escravizadas no Brasil que lideraram revoltas ferozes. É Giulia Tofana, a alquimista italiana que, no século XVII, vendia veneno a mulheres presas em casamentos violentos, oferecendo-lhes uma libertação letal. A sua “monstruosidade” foi a recusa da domesticação; a sua raiva foi memória e resistência.
Estas figuras, míticas e históricas, ensinam-nos sobre a potência da raiva justa. Longe de serem vilãs, são guias para tempos de colapso, lembrando-nos haver uma força imensa naquilo que se recusa a ser calado ou “curado” para caber numa normalidade doente.
O Que Germina nos Escombros?
O Dia a Seguir da Tempestade não oferece um mapa de volta a casa, porque a casa que conhecíamos talvez já não exista. Em vez disso, oferece uma bússola partida, feita de mitos, barro e veneno, que aponta não para uma direção, mas para uma postura: a de permanecer com a ferida do mundo sem desviar o olhar.
Há uma sabedoria profunda a ser encontrada na decomposição, na contaminação e no caos habitado, uma putrefação amorosa que alimenta uma continuidade selvagem.
O Cedro-Catedral tombou e abriu uma fenda no chão. O seu corpo caído é um convite. E se, em vez de tentarmos fechar a ferida, tivermos a coragem de espreitar para dentro?
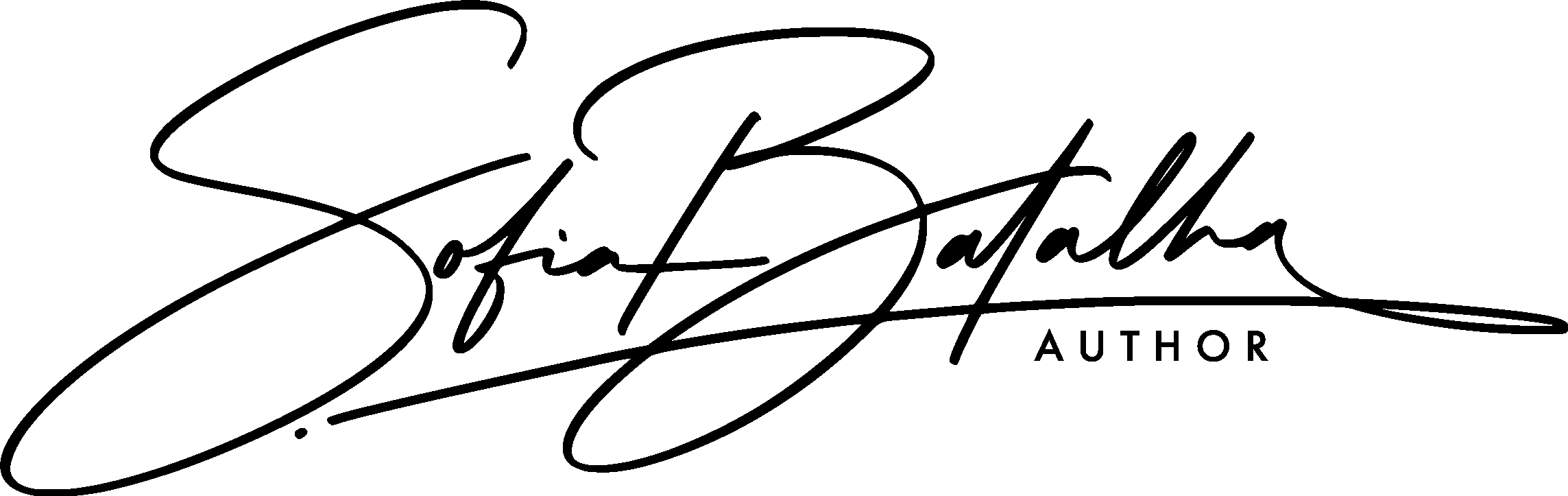
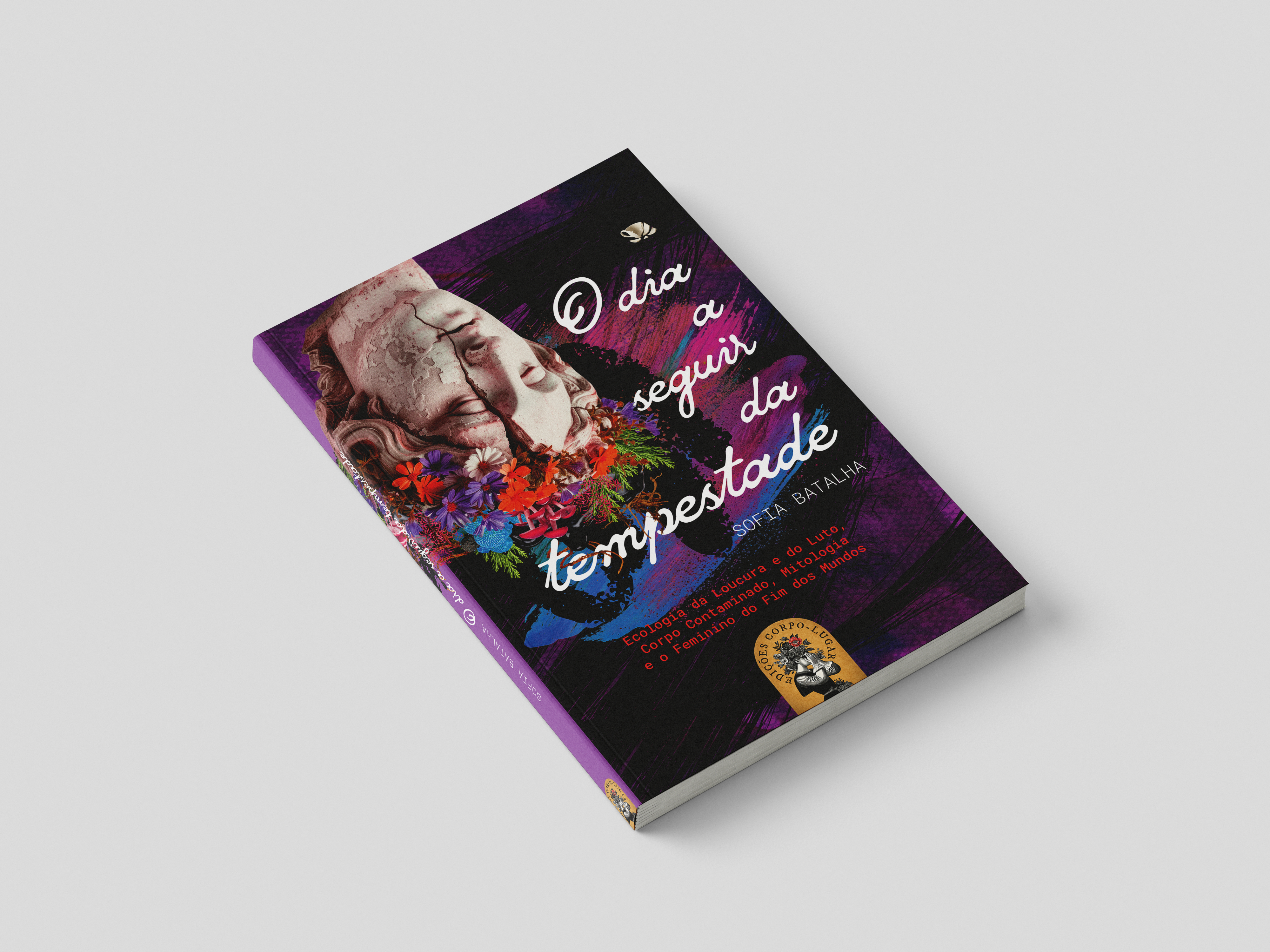
Outros Artigos de Eco-Mitologia
-

O Arquétipo como Território Vivo
-

Metamorfose e a Voz da Terra
-

Parentescos Eco-Míticos
-

Virgens Negras e a Revolução
-

Quem seríamos
-

As Quatro Peles dos Contos Eco-Míticos
-

O Vazio Nunca Foi Vazio
-

Corpos que Contam o Mundo
-

Ensinamentos da Tempestade
-

Para Lá do Sapatinho de Cristal
-

Dentro do Espelho
-

Ecologia e Folclore do Medo
-

O Clima são muitos Corpos
-

Sintoma e Oráculo
-

Ophiussa
-

De volta às Sereias
-

Lobo – Criador e Professor
-

A Psique Mítica como prática de escuta porosa
-

Corpo de deus — Corpo da Terra
-

À beira da floresta queimada
-

O Tear
-

Corpos que Escutam
-

Entre o Linho e a Constelação
-

Calendários de Penas e Mantos Roubados
-

Deusas Tóxicas
-

Debaixo da Barriga Suave de Inanna-Ereshkigal
-

Desaprender ser Boa Pessoa
-

A Psique Não-Autóctone e a Psique de Plástico
-

E se o Mito nos Observa?
-

A Torre
-

Activismo Eco-Mítico
-

A Lógica da Batata
-

O Arquétipo como Território Vivo
-

Metamorfose e a Voz da Terra
-

Parentescos Eco-Míticos
-

Virgens Negras e a Revolução
-

Quem seríamos
-

As Quatro Peles dos Contos Eco-Míticos
-

O Vazio Nunca Foi Vazio
-

Corpos que Contam o Mundo
-

Ensinamentos da Tempestade
-

Para Lá do Sapatinho de Cristal
-

Dentro do Espelho
-

Ecologia e Folclore do Medo
-

O Clima são muitos Corpos
-

Sintoma e Oráculo
-

Ophiussa
-

De volta às Sereias
-

Lobo – Criador e Professor
-

A Psique Mítica como prática de escuta porosa
-

Corpo de deus — Corpo da Terra
-

À beira da floresta queimada
-

O Tear
-

Corpos que Escutam
-

Entre o Linho e a Constelação
-

Calendários de Penas e Mantos Roubados
-

Deusas Tóxicas
-

Debaixo da Barriga Suave de Inanna-Ereshkigal
-

Desaprender ser Boa Pessoa
-

A Psique Não-Autóctone e a Psique de Plástico
-

E se o Mito nos Observa?
-

A Torre
-

Activismo Eco-Mítico
-

A Lógica da Batata