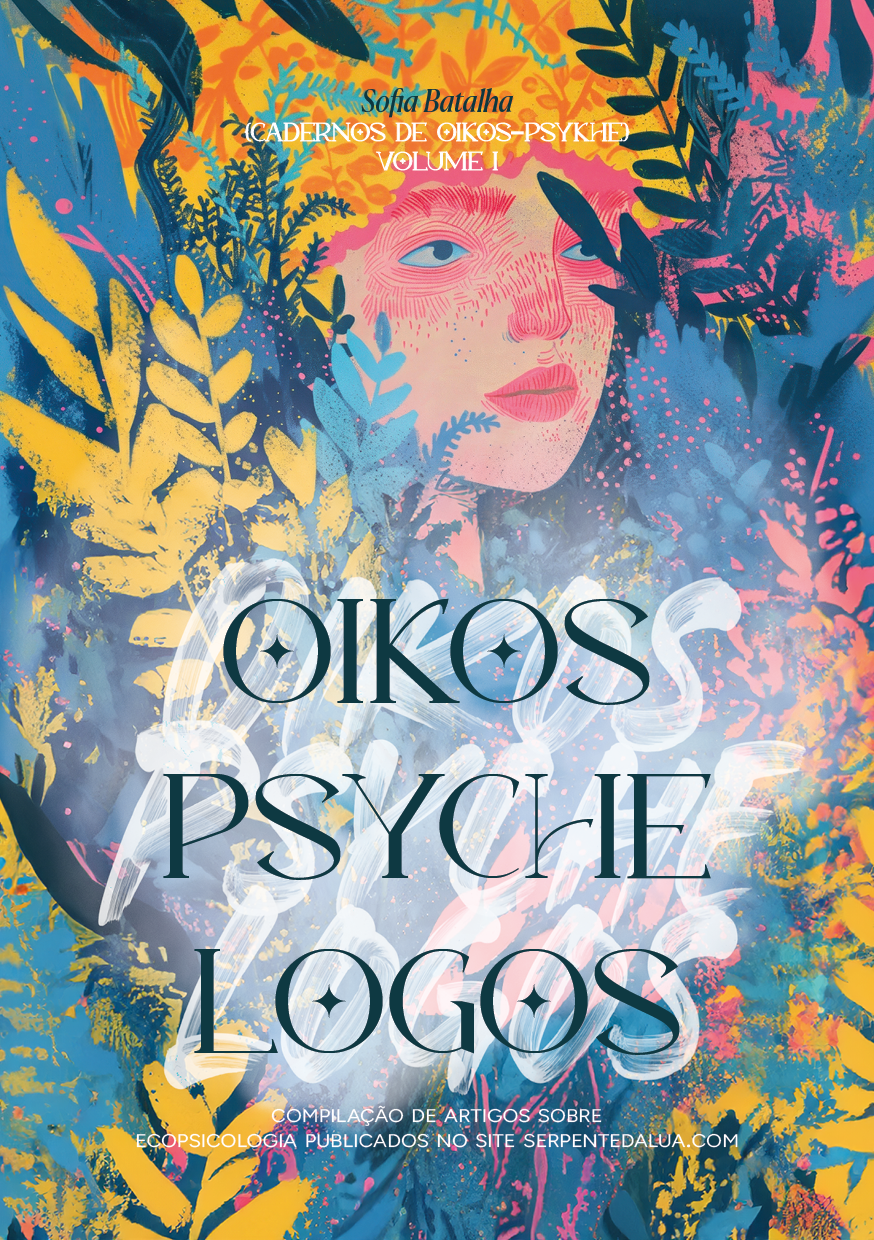Ler artigos relacionados
{Ecopsicologia}
-

Temos de ir para dentro
-

À beira da floresta queimada
-

O Tear
-

Ecopsicologia Relacional
-

Rede de Indra & Rede de Arrasto
-

Da Dominação ao Cuidado
-

Cuidar como prática de rendição
-

“Natureza” não é neutra, cura ou refúgio
-

Quando o Eu se Lembra que é Território
-

Desaprender ser Boa Pessoa
-

Terapia em Desobediência
-

A Psique Não-Autóctone e a Psique de Plástico
-

A ilusão do auto-desenvolvimento
-

Ver com os Dois Olhos
-

Psique-Não-Autóctone
-

Armadilhas da Neutralidade
-

O Manto frio da Modernidade
-

Cultivar a Complexidade
-

A diferença entre reducionismo e simplicidade
-

O problema do Pensamento Catedral
-

Ser incompleto num mundo finito
-

A viagem de volta da corporação ao corpo
-

Paisagens Afectivas Internas e Externas
-

Os ciclos de desaprendizagem
-

Temos de ir para dentro
-

À beira da floresta queimada
-

O Tear
-

Ecopsicologia Relacional
-

Rede de Indra & Rede de Arrasto
-

Da Dominação ao Cuidado
-

Cuidar como prática de rendição
-

“Natureza” não é neutra, cura ou refúgio
-

Quando o Eu se Lembra que é Território
-

Desaprender ser Boa Pessoa
-

Terapia em Desobediência
-

A Psique Não-Autóctone e a Psique de Plástico
-

A ilusão do auto-desenvolvimento
-

Ver com os Dois Olhos
-

Psique-Não-Autóctone
-

Armadilhas da Neutralidade
-

O Manto frio da Modernidade
-

Cultivar a Complexidade
-

A diferença entre reducionismo e simplicidade
-

O problema do Pensamento Catedral
-

Ser incompleto num mundo finito
-

A viagem de volta da corporação ao corpo
-

Paisagens Afectivas Internas e Externas
-

Os ciclos de desaprendizagem
Os perigos e limitações da
“Prescrição de Natureza”
Quando estudamos Ecopsicologia ou investigamos práticas de Eco-Mitologia ou Ecoterapia, inadvertidamente abrimos uma Caixa de Pandora ao exercer consultas terapêuticas em espaço natural ou prescrever caminhadas e “estar na natureza”. Na verdade, já tinha escrito sobre este tema num curto artigo com o título “Natureza não é refúgio, mas Vida”, que acabou por ser adaptado para o livro do Santuário.
![]()
A Caixa de Pandora é um artefacto da mitologia grega ligado ao mito de Pandora no poema Trabalhos e Dias, de Hesíodo, de c. 700 a.C. Hesíodo conta que a curiosidade a levou a abrir um recipiente deixado ao cuidado do marido, libertando assim maldições sobre a humanidade. Outra variante diz que a caixa foi um presente dos deuses para Pandora, a primeira mulher na Terra. A Caixa de Pandora é uma metáfora de algo que traz grandes problemas ou infortúnios, mas que também contém esperança. Neste caso, trago-a aqui para nomear os perigos e limitações das práticas terapêuticas na natureza sem um discernimento contextual, onde ao acharmos que estamos a fazer bem, estamos apenas a replicar padrões nocivos de dano e exílio da psique individualista e antropocêntrica.
Ao longo dos anos o meu trabalho e prática pessoal têm-se desdobrando nas bainhas invisíveis da sociedade normativa que nos enforma, um espaço mítico e intersticial onde não há respostas finais, mas há ética, reciprocidade e responsabilidade. Assim as minhas perguntas têm sido:
- Como é que nós, na cultura tecno-capitalista do norte global, podemos voltar a relacionar-nos com a “natureza” sem repetir os padrões extractivistas e profundamente irresponsáveis que nos têm caracterizado culturalmente? Como podemos recordar como reciprocar em vez de só retirar?
- Como a terapia na “natureza” pode ser consciente de como facilmente exila, limita e mutila a riqueza do mais-que-humano à procura incessante de bem-estar e significados exclusivamente individualistas e antropocêntricos?
- Como podemos abrir a narrativa terapêutica ao contexto ecossistémico vivo e soberano?
Como tomar consciência das hierarquias internas que evitam a relação?
- Como é que a presença em locais controlados e seguros, mas ainda assim considerados “naturais e terapêuticos”, limita a maturação ao pensamento complexo e paradoxo?
- Como a expectativa purista da natureza nos exila e reduz da relação real? Evitando tocar e relacionar com tudo o que é feio, pútrido, perigoso ou contaminado?
Não aspiro responder a todas estas questões neste artigo.
Mas quero trazer alguns desafios para nos relacionarmos mais madura e eco-sistemicamente.
Basta uma pequena pesquisa para se encontrarem inúmeros artigos, estudos e livros sobre os benefícios da natureza para o ser humano. Linear e superficialmente “vamos para a natureza para nos sentirmos melhor”! Por contraste, há muito poucos artigos que falam dos perigos desta abordagem (e necessidade) moderna.
No mês passado comecei a ler um livro, Weathering de Ruth Allen, uma geóloga que escreve sobre a sua prática de ecoterapia com a geologia do lugar que habita, enlaçando o seu conhecimento da geologia, as palavras e conceitos deste campo de conhecimento, com a prática terapêutica. Mas à medida que ia lendo mais incomodada ia ficando, pois, apesar da riqueza da incorporação do pensamento geo-sistémico no campo terapêutico, os padrões modernos de dissociação profunda e de excepcionalismo humano continuam intactos na sua prática.
Senti que, apesar da riqueza da sua perspectiva geológica ao tornar as pedras agentes activos da simbologia da psique humana, a sua prática não saiu um milímetro da co-optação da natureza ao significado exclusivamente humano.
Senti que as pedras ficaram limitadas e reféns aos processos individuais de cada cliente, perdendo mais uma vez a sua soberania e agência mais-que-humana.
Senti uma performance de relação e não a nuance e subjectividade, assim como o desafio e dificuldade, de forjar reais (íntimas e lentas) relações mais-que-humanas, onde não somos o actor principal.
Senti, uma vez mais, a falta do contentor da psique colectiva ocidental moderna, como conhecedora de territórios míticos, onde as pedras falam e não é sobre nós.
A seguir trago várias perspectivas e referências para ilustrar a dissociação que senti na proposta de Allen.
A Medicalização Moderna da Natureza
Em 2016, o autor J.B. MacKinnon, escreveu um artigo intitulado “The Problem with Nature Therapy”. Nos parágrafos seguintes bebo desta fonte, que adaptei e traduzi, para elucidar alguns dos sentires e perguntas enlaçadas anteriormente (não trago uma tradução nem linear, nem literal do artigo). Exatamente por achar importante notar estes nós-sombra, pois além da crise de percepção reclamada pelos ecopsicólogos, acredito que estamos uma profunda crise de “relação”, que evita que “façamos parte”, perpetuando o vazio niilista, a abstração intelectual-transcendente e a falta de pertença imanente e visceral, tão banal como valiosa; ficando sem chão para maturar responsável, simbiótica e reciprocamente.
MacKinnon traz exemplos de prescrição da natureza como a droga de eleição para o stress, o cinismo, o narcisismo e outros “sintomas incapacitantes da vida moderna”.
O padrão da natureza apresentada seguindo premissas farmacêuticas, como “um medicamento não nocivo que alivia os sintomas incapacitantes da vida moderna”, invade posts de redes sociais, artigos e práticas variadas. A tendência cada vez mais profunda da medicalização da natureza é prevalecente numa cultura global orientada para a tecnologia e produtos vendáveis; com mais de metade da humanidade a viver em cidades e a passar 90% do tempo dentro de casa. A falta de natureza tornou-se uma preocupação generalizada – primeiro entre os psicólogos, mas também entre pais, educadores, urbanistas e artistas – de como a nossa desconexão do mundo vivo tem um preço elevado para a nossa saúde.
Segundo escritor Richard Louv, em 2005, a doença a tratar é a “perturbação do défice de natureza”. Os sintomas são uma lista das obsessões médicas mais faladas dos nossos tempos, desde o stress e a ansiedade à obesidade, depressão, perturbação de défice de atenção e hiperatividade (TDAH). Em cada um destes casos, um conjunto crescente de provas sugere que a exposição à natureza pode ajudar. Entre os tratamentos específicos de bem-estar, os banhos de floresta – passeios descontraídos, mas atentos, pelos bosques – estão atualmente na moda.
Com uma clareza crua MacKinnon refere como a receita da natureza acaba por ter efeitos secundários preocupantes. Corre o risco de simplificar todo o espetro do que podemos experimentar na natureza e até de ameaçar a própria natureza. De facto, aquilo que cada vez mais vemos como a cura para o nosso mal-estar moderno pode, em vez disso, ser o mais recente sintoma do mesmo.
Em termos biológicos e ecossistémicos, sempre fizemos parte da natureza, “o tempo passado na natureza é bom para a psique” – na linguagem limitada da modernidade. Não é certamente por acaso que oferecemos flores aos mortos; que os jardins são associados a hospitais desde, pelo menos, a Idade Média. Os psicólogos ambientais citam Frederick Law Olmstead, o arquiteto-chefe do Central Park, em Nova Iorque, que, em 1865, escreveu uma síntese inicial da ligação entre a natureza e o bem-estar mental: “É um facto científico que a contemplação ocasional de cenas naturais de carácter impressionante (…) é favorável à saúde e ao vigor dos homens e especialmente à saúde e ao vigor do seu intelecto, para além de quaisquer outras condições que lhes possam ser oferecidas.” Olmstead também diagnosticou o problema do défice de natureza, identificando “uma classe de perturbações” associadas à desconexão do mundo natural, incluindo “excitabilidade mental e nervosa, morosidade, melancolia ou irascibilidade”. Mas a afirmação de Olmstead de “facto científico” reflectia pouco mais do que uma crença generalizada.
Só em meados da década de 1950 é que os investigadores se propuseram a estudar a razão pela qual as pessoas (da cultura ocidental moderna) escolhem passar tempo na natureza. A experiência na natureza selvagem revelou-se rica e gratificante, sim, mas também ambígua, imprevisível e altamente pessoal.
Acredito que este “altamente pessoal” acima descrito, acontece, por já terem sido esquecidos os contentores simbólicos culturais que cartografam e ancoram a experiência colectiva, fazendo parte da profunda amnésia de relação recíproca com os lugares da cultura moderna; o que contrasta profundamente com o legado de sabedoria viva, contextual e ecossistémica de culturas ainda activamente nativas. Por isso tive o cuidado de acrescentar e discernir que estas sombras estão presentes na psique e cultura ocidental moderna. Pois, nestas culturas nativas nem sequer há “natureza”, apenas parentesco e relação. Tal como nos fundos da nossa memória dos ossos, apesar de todos os fragmentos e exílios.
Na década de 1970, os psicólogos já haviam estabelecido que as pessoas da cultura moderna ocidental tendem a preferir cenas naturais a paisagens “construídas”. Em 1979, o geógrafo comportamental Roger Ulrich, professor de arquitetura na Universidade A&M do Texas, publicou um dos primeiros estudos para medir o impacto da natureza no bem-estar mental. Ulrich pegou em estudantes universitários que tinham acabado de fazer um exame, analisou os seus estados emocionais (estavam stressados), depois fez com que vissem 50 diapositivos a cores de cenas urbanas ou naturais, antes de voltar a inquirir os estudantes. As cenas urbanas eram arrumadas, com linhas limpas e sem povoamento – como imagens de um manual de arquitetura. A natureza, por outro lado, era, neste caso, frequentemente desalinhada e pouco espetacular, em muitos casos nada mais do que uma parede de verde. E, mesmo assim, a natureza saiu vencedora, na recuperação do stress, na restauração da capacidade de atenção concentrada ou ambos.
A relação visceral com a natureza está enraizada na própria biologia. A evolução humana teve lugar nos biomas vivos e em desdobramento sazonal e complexo – a natureza sempre foi casa.
Positivo ou Negativo
Agora, os investigadores descobrem que a simples visão da natureza no seu estado normal, de fundo – e não apresentando, por exemplo, uma cobra-cuspideira agitada – funciona como uma pista para um estado psicológico positivo, da mesma forma que a cobra desencadearia uma reação negativa imediata e não aprendida. A natureza é um pensamento à espera de ser visto: “cognição incorporada”, na gíria da psicologia. Não vamos para a natureza para obter “resultados desejados e esperados”, informou o Serviço Florestal do Departamento de Agricultura dos EUA numa análise de 2012 de 50 anos de estudos sobre a natureza selvagem.Vamos em busca de “experiências vividas emergentes” que “dão sentido à vida”.
MacKinnon refere que os biólogos dizem que a natureza não ameaçadora envia um sinal automático de calma para a amígdala e para o córtex visual no cérebro, que desencadeia o sistema nervoso autónomo para baixar o ritmo cardíaco e a pressão sanguínea; diminuir as hormonas relacionadas com o stress, como a adrenalina e o cortisol; e aumentar os neurotransmissores como a serotonina e a dopamina.
Mas à medida que aprendemos a quantificar e a qualificar o efeito da natureza na nossa psique, a receita da natureza tornou-se menos uma metáfora do que uma realidade clínica, afastando-nos da visceralidade imanente e complexa.
A procura da natureza como medicina também tem sido paradoxal, afastando-nos da imersão na natureza. A investigação no terreno expõe normalmente os participantes no estudo a ambientes em condições de natureza versus condições construídas pelo homem ou não naturais. Isso não significa, no entanto, que a natureza envolvida seja do tipo selvagem.
A aparente “cura para o distúrbio de défice de natureza” foi descoberta, através de breves encontros com espaços verdes urbanos bem cuidados, vistas de janelas e representações da natureza que vão desde pinturas a realidade virtual. Imagens de Photoshop ou AI são hoje amplamente usadas como substituto da experiência real.
Há alguns anos, Peter H. Kahn, um pioneiro da psicologia ambiental que dirige o Laboratório de Interação Humana com a Natureza e os Sistemas Tecnológicos da Universidade de Washington, publicou uma análise sobre os efeitos psicológicos das vistas reais da natureza através de uma janela versus as vistas de uma “janela” HDTV; do tempo passado com cães vivos versus cães robóticos; da “telegardinagem” com um braço robótico através de uma interface Web. Em todos os casos, verificaram que as representações de contacto com a natureza são melhores do que a ausência de natureza.
“À primeira vista, esta constatação poderia indicar como podemos melhorar a vida humana: quando a natureza real não está disponível, substitua-a por natureza tecnológica”, escreve Kahn. Mas ele nota que algo se perde na tradução: apenas a vista real da janela facilitava a recuperação do ritmo cardíaco após o stress; as crianças sentiam-se mais atraídas pelo cão vivo e que respirava; a jardinagem por controlo remoto com outras pessoas era sociável, mas não oferecia grande sensação de ligação à natureza. “A espécie humana”, conclui Kahn, “não pode atingir a sua plena medida de sensibilidade e significado sem o mundo natural”.
A Redução da Complexidade
“Há uma redução da complexidade”, diz Terry Hartig, psicólogo ambiental da Universidade de Uppsala, na Suécia, coautor de uma revisão seminal da investigação sobre a natureza e a saúde em 2014. “Temos diferentes tipos de pessoas, em diferentes circunstâncias, a frequentar diferentes tipos de ambientes naturais em diferentes períodos de tempo, com uma frequência diferente e com diferentes durações. O que isto significa para a mudança na vida de uma pessoa ao longo da vida – duas visitas de cinco minutos por semana versus fins-de-semana passados longe de tudo o resto?”
De facto, a abordagem da natureza como medicina tende a ignorar muitas experiências que não são facilmente classificadas como benéficas. Noites negras e qualquer coisa a mexer nos arbustos; larvas a fervilhar no sorriso do crânio de um veado em decomposição: um estudo holandês descobriu que as pessoas têm mais probabilidades de contemplar a morte em ambientes selvagens do que em ambientes urbanos ou naturais cultivados. Os pensamentos sobre a morte podem não ser positivos de uma forma convencional, mas há certamente maturação na contemplação da mortalidade, tal como pode haver no medo, no nojo e no desconforto. Quando os investigadores compararam as experiências dos visitantes de um jardim botânico bem cuidado e das falésias irlandesas de Sliabh Liag, os frequentadores do parque relataram sentir-se calmos e ligados à natureza, mas os caminhantes tinham mais probabilidades de sentir excitação, uma sensação de estar a ser esmagado, uma consciência aguda de si próprio, agitação – um banquete de sensações.
Ming Kuo, diretor do Laboratório de Paisagem e Saúde Humana da Universidade de Illinois em Urbana-Champaign, afirma o papel da natureza na saúde, tal como o leite materno, é melhor visto como holístico:
“Os fabricantes de fórmulas para bebés têm trabalhado arduamente durante décadas para garantir que as fórmulas têm os mesmos benefícios que o leite materno e, no entanto, descobrimos continuamente que o leite materno tem estes fantásticos benefícios cognitivos, para a saúde e para o sistema imunitário – este conjunto impressionante de benefícios”, afirma Kuo. “Podemos esperar chegar perto de substituir a natureza por outra coisa que tenha 1 ou 2 ou mesmo 70 por cento dos benefícios. Mas, a dada altura, temos de perguntar: porque não obter o verdadeiro?”
Kahn critica a medicalização da natureza, salientando que não aplicamos a abordagem dose-resposta às nossas redes humanas. Perguntar-se-ia: “De quanta exposição precisa um marido da sua mulher para ter bons resultados: coração saudável, menos stress, recuperação mental?”
“Uma dose não é uma relação. Não se trata de coexistência. Não tem a ver com interconexão”.
De facto, reduzir o complexo mundo vivo a um recurso natural para a saúde mental pode ser um mau remédio para a própria natureza. Birgitta Gatersleben, psicóloga ambiental da Universidade de Surrey, em Inglaterra, observa que a maioria dos estudos sobre os efeitos terapêuticos da natureza apresentam “ambientes agradáveis, semelhantes a parques, abertos, quase sempre verdes e quase sempre ensolarados”. E se algumas versões da natureza se revelarem assustadoras, pouco apelativas ou simplesmente aborrecidas?
De facto, se olharmos atentamente para a paisagem verde e agradável que domina a literatura da psicologia ambiental, é difícil ignorar a semelhança com o ecossistema planetário problemático que conhecemos hoje: biodiversidade reduzida e simplificada; animais grandes ou perigosos geralmente ausentes; e a natureza cada vez mais frequentemente vista no YouTube ou no National Geographic Channel.
Em Jeito de Conclusão…
mas talvez uma tentativa de Início
![]()
Finalizando com a metáfora da Caixa de Pandora, clarifico o quanto as nossas premissas e expectativas inconscientes, descritas acima, fazem com que o que saia da caixa da Terapia (Medicalizada Moderna) na Natureza seja:
- a repetição de padrões extractivistas e profundamente irresponsáveis;
- a inconsciência de como exila, limita e mutila a riqueza do mais-que-humano na procura incessante de bem-estar e significados exclusivamente individualistas e antropocêntricos;
- o constante reduzir e separar da narrativa terapêutica relativamente ao contexto ecossistémico vivo e soberano;
- a revelação das hierarquias incorporadas;
- a ilusão que a “dose certa” prescrita equivale à relação;
- os locais prescritos controlados e seguros, “naturais e terapêuticos”, que limitam a maturação ao pensamento complexo e paradoxo;
- e a expectativa purista da natureza que exila e reduz da relação real, a que evita tocar e relacionar com tudo o que é feio, pútrido, perigoso ou contaminado.
Estas são práticas perigosas, por manterem a dissociação velada.
(*) Do artigo de J.B. MacKinnon, que serviu de base para esta segunda parte (que recomendo a leitura),“The Problem with Nature Therapy”, deixei conscientemente de parte algo que ele traz: a diversão 2.0. Este conceito vem da prática de desportos intensos na natureza selvagem, onde se pressente perigo e os sentidos ficam em alerta máximo, onde só após a intensidade da experiência superada se sente a sensação de “bem-estar” e diversão. Não trouxe este conceito por o considerar ainda bastante problemático no contexto que proponho. Se por um lado há uma experiência de insegurança fora da zona de conforto com a natureza agreste e intensa, por outro ainda é rotulado de “diversão” e ainda se mantém refém do bem-estar humano. Como subir ao Evereste por desporto e superação pessoal, deixando o ecossistema da montanha frágil por todo o lixo ali largado, dessacralizando e limitando o lugar como apenas uma ferramenta de superação do ego antropocêntrico. Novamente não é relação, apenas extração; claro que o paradoxo é que os participantes vêm cheios de serotonina e de experiências numinosas pelo contacto directo e em esforço do selvagem, mas sem contentor cultural que valide e ancore a experiência imanente – e por isso fica tão difícil de discernir.
Este discernimento critico é tão rigoroso como desconcertante, pois como refiro num artigo: “O paradoxo poético é que a natureza em nós em ressonância directa com os lugares ecologicamente vivos e diversos nos traz realmente a esse lugar de paz e regeneração, mesmo que as nossas premissas sejam extractivistas, antropocêntricas ou exclusivamente egocêntricas. Mesmo confundindo direitos e responsabilidades.”
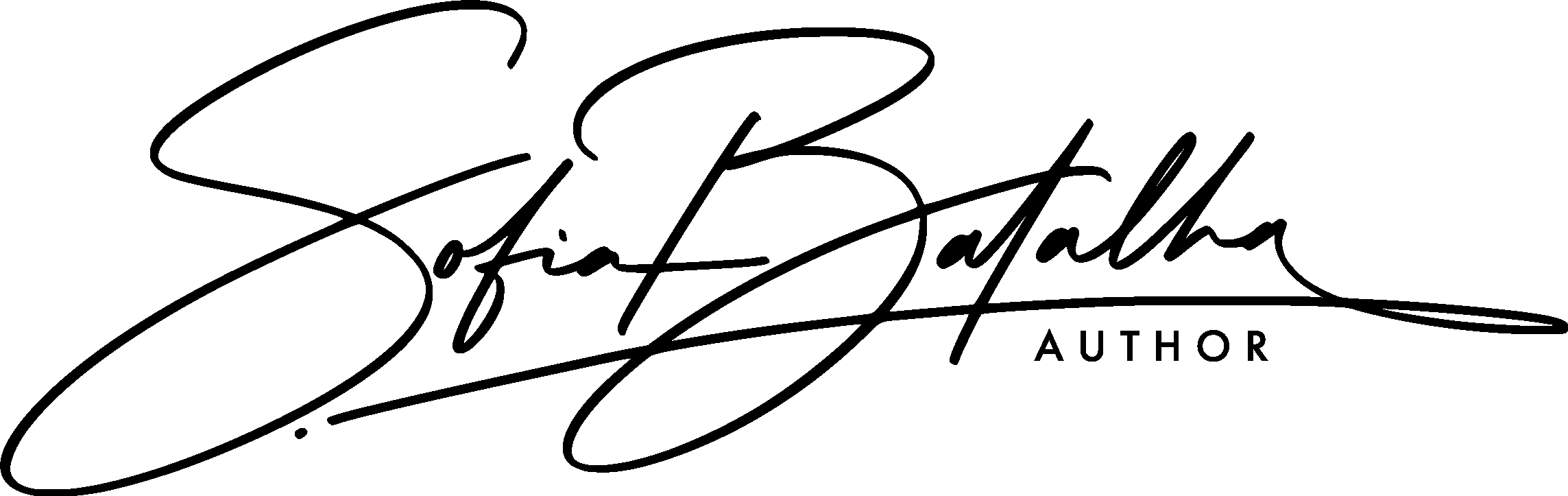
🌳 Vários livros de diversos territórios, lugares de resgate da polimorfa Imanência.
Peregrinações caleidoscópicas em profundidade, às raízes da identidade moderna, em todos os seus preconceitos, intrínseca violência e absurdas limitações. Diferentes jornadas de amor pela poesia da complexidade, da diversidade e da metamorfose. Tecelagens de histórias vivas que nos recordam do que esquecemos, da sacralidade do chão e da Vida. Complementos ao vício da transcendência, em rigor e responsabilidade.