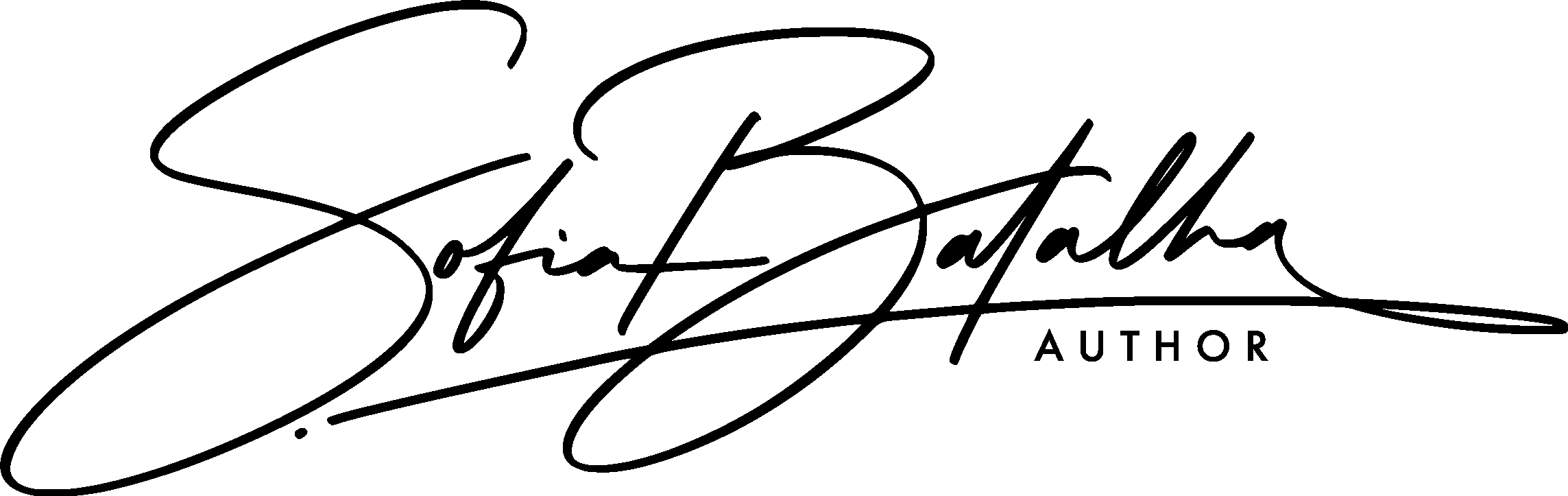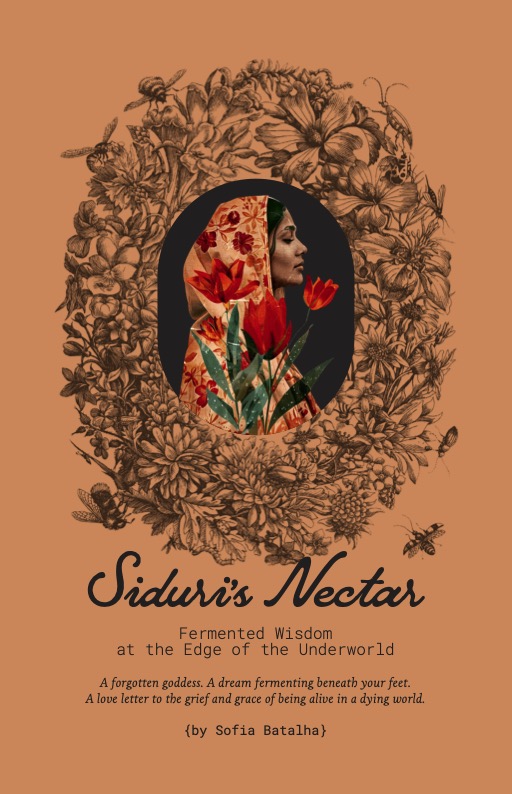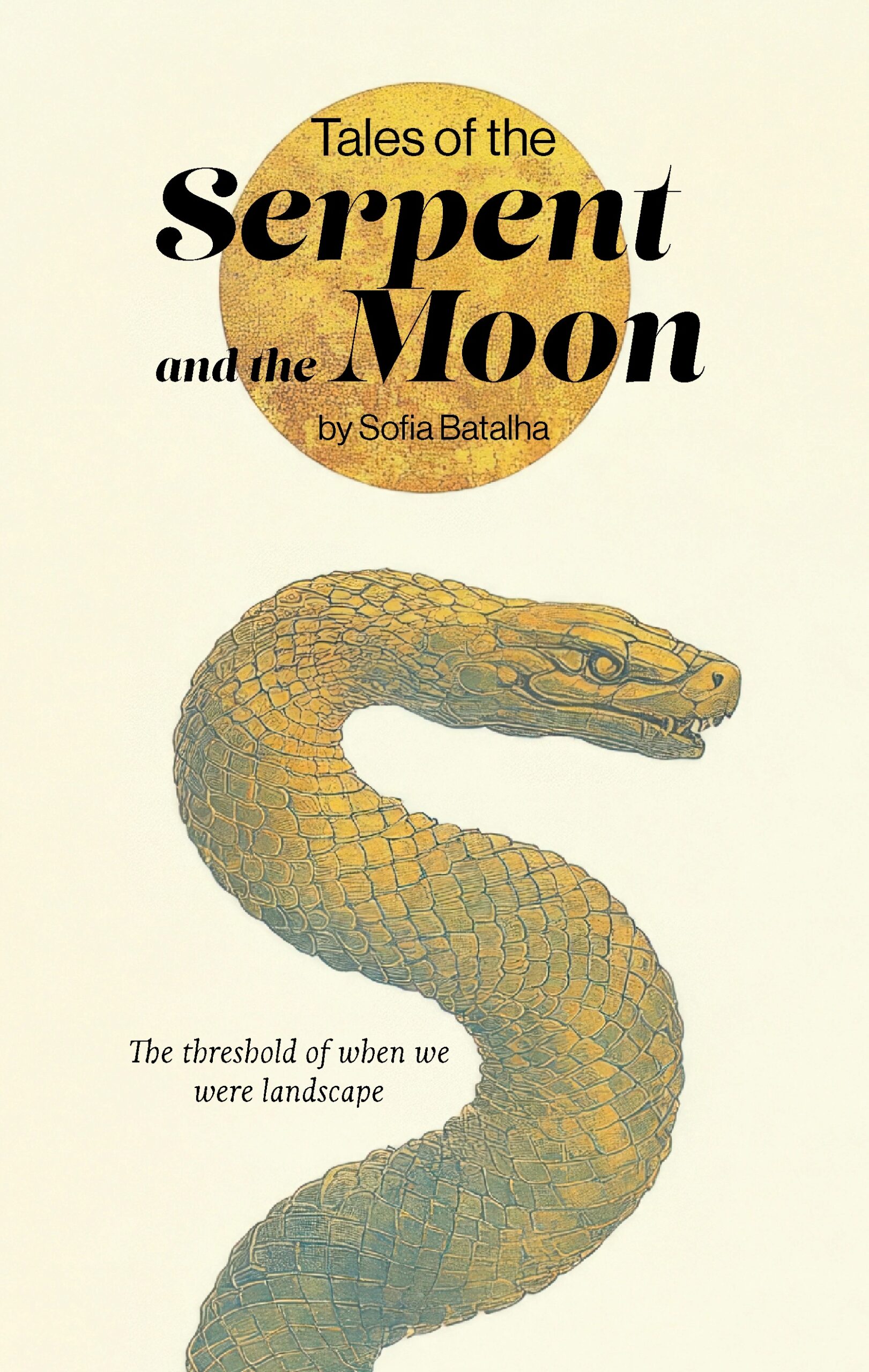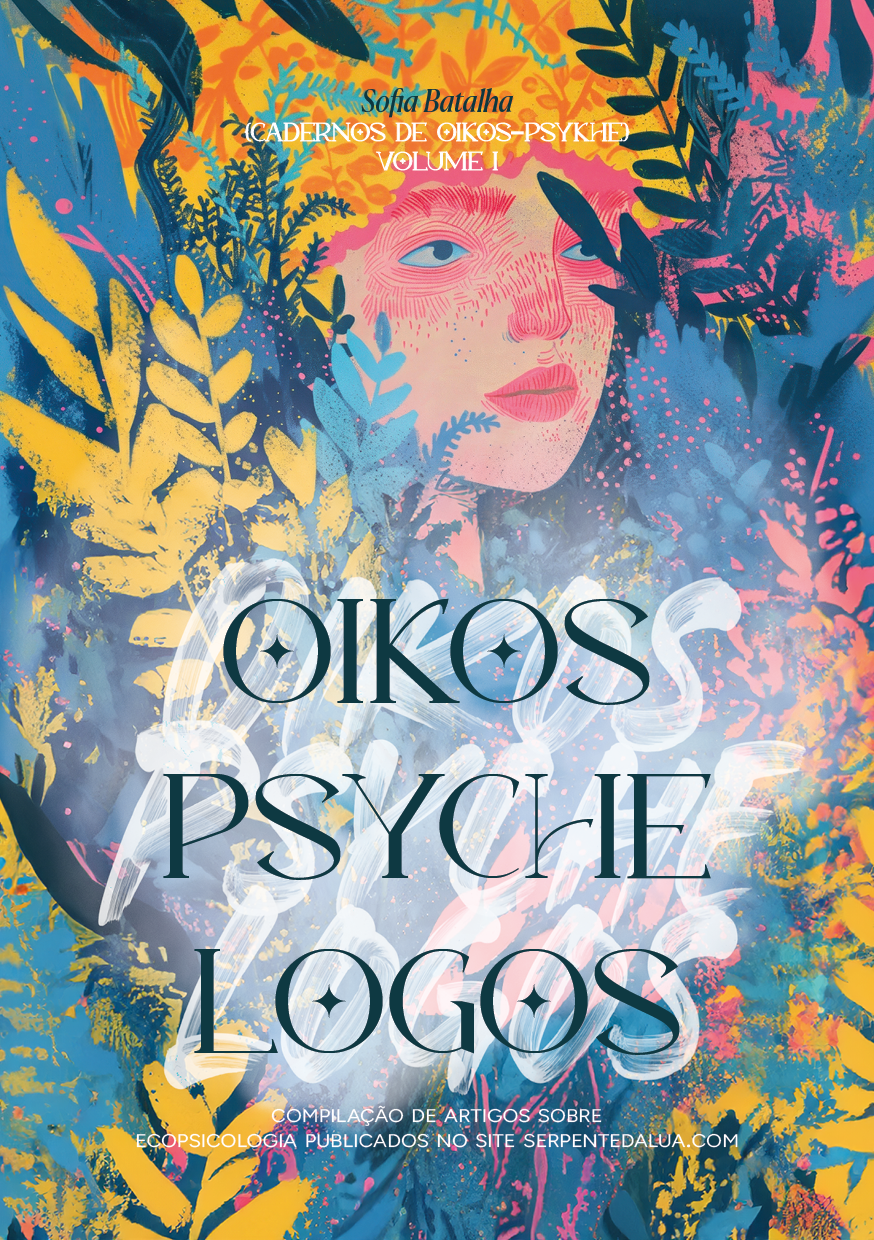Nem fora, nem acima da terra, mas na ferida
{Carta desde a Fissura}
Disseram-me com carinho: “Gosto do teu trabalho, mas andas sempre à volta da civilização e do humano… eu gosto mais da natureza.” E ali ficou o silêncio entre nós, revelando uma ferida funda. Porque o que para mim é retorno à terra, escavar a cultura que me cortou dela, para outros parece desvio. Mas como amar a terra sem passar pela ferida da modernidade que nos ensinou a usá-la, medi-la e fugir dela? O que parece “sobre o humano” é, para mim, o trabalho sujo e necessário de remover os entulhos psíquicos e históricos que ainda impedem o corpo de sentir que pertence. Não para inventar um novo caminho, mas para voltar à terra com os joelhos no chão, sem romantismo, sem performance, só presença em fricção.
Mesmo dito com carinho, soa àquela velha cisão: como se “a natureza” estivesse algures fora do corpo ferido que a tenta amar. Como se pudéssemos habitar o mundo sem passar pelos filtros, feridas e fantasmas de uma cultura que há séculos tem separado corpo de terra, humano de bicho, sentir de saber.
Este comentário bem-intencionado, reduz o meu trabalho a “andar à volta do homem e da civilização”, revela a extensão da anestesia cultural. Desenterra o quão invisível se tornou a mediação colonial nas nossas formas de amar a terra. É como se alguém dissesse: “eu só quero o jardim”, mas se esquecesse que o cimento tóxico ainda cobre as raízes, que o solo foi empacotado, que os nomes das flores foram esquecidos, ou pior, privatizados.
Enquanto isso ajoelho-me nas rachas e fissuras, tentando recordar como se ouvem as histórias do cimento e do solo, da amputação e da memória, da cicatriz e dos nomes antigos.
É que chegar à natureza não é só caminhar para fora, é também escavar para dentro.
Descolonizar a pele e os ossos. Lamber as feridas do isolamento forçado. Tirar os espinhos das metáforas herdadas. Compostar as fantasias de pureza e inocência. E é este o meu trabalho, em torno da civilização como quem olha para uma ferida que nunca cicatrizou. Porque essa ferida está entre nós e a terra.
Talvez eu não saiba transmitir que as minhas perguntas são ecológicas porque são situadas e incorporadas. Falo da “natureza” que atravessa a digestão do patriarcado, do capitalismo neoliberal, da vergonha, do calendário linear, do mapa escolar da Europa e do cansaço existencial que nunca se pode deitar no chão porque o chão foi cimentado, amordaçado e privatizado.
Falo de uma terra que não é só lugar geográfico, mas sistema nervoso coletivo, cicatriz psicológica, língua encravada nos ossos.
Porque a minha ligação à terra passa por reconhecer o quanto fui cortada dela. E essa separação vive em mim como orfandade, fome, medo, urgência e voracidade. O meu trabalho não é contornar a modernidade, é atravessá-la. Porque sem atravessar, não há escuta. E sem escuta, o que chamamos de ‘conexão com a natureza’ tende a ser projeção.
Este é um caminho que não tem glamour, mas tem dignidade relacional. Não pretendemos regressar a um passado ideal, mas assumimos o compromisso e a responsabilidade de ficar com o presente partido.
Por outro lado, há cada vez mais pessoas a mudar de vida, cada vez mais coletivos no rural a correr atrás de subsídios, de hortas e de soluções. E entendo. Mas, costumar faltar um músculo: o da escuta cultural profunda. Poucos querem tocar nas camadas enterradas, na fome colonial por receitas e no desconforto do não saber. Pouco espaço para confronto cultural. Pouca disponibilidade para as contra-narrativas que revelam como o próprio desejo de solução pode ser colonizado. Pouco chão para perguntar: “Quem somos nós, aqui, agora, na nossa amnésia? O que tentamos evitar enquanto procuramos soluções?” E entendo porquê, porque dói. Porque é mais fácil plantar uma árvore do que cavar o lugar de onde o nosso sentir foi exilado.
Queremos regenerar o solo, mas não o solo ferido da nossa própria perceção. E o que trago não é um mapa, mas um território vivo, cheio de perguntas cruas que insistem— consegues ficar? Consegues sentir sem fugir? Porque talvez a terra não precise de mais projetos. Talvez precise que alguém lhe diga: “Desculpa. Estou aqui. Não para te consertar, mas para aprender a escutar o que nunca deixaste de sussurrar.”
…
Disseram-me, com doçura até, que o meu trabalho anda muito à volta “da civilização e do homem”.
E que preferem “a natureza”.
E fiquei ali, entre o riso nervoso e o silêncio firme, a digerir.
Porque o que me disseram não é raro. Mas revela tanto.
Como se fosse possível chegar à natureza sem passar pela ferida.
Como se a terra estivesse à parte do cimento, do calendário, do medo de sentir.
Como se a nossa subjetividade não tivesse sido moldada por séculos de extração, domínio e apagamento.
Como se o corpo que tenta amar a terra ainda soubesse como.
O meu trabalho não gira em torno do humano por vaidade, mas por responsabilidade.
Porque há uma ferida entre nós e o mundo vivo.
E essa ferida tem nome: modernidade.
Tem textura de corte, temperatura de amnésia, e sabor a controle.
E tem sintomas de voracidade espiritual, romantismo ecológico, na procura por soluções “fora” quando o que dói está dentro.
Não estou à procura de mais.
Estou a desaprender o excesso.
Escavo para baixo.
Porque a terra não se acede por cima.
Mas pelo corpo.
Pela escuta das rachas, das sobras, das orlas e do que perdeu voz.
E quando falo do humano, da civilização, do trauma intergeracional, não estou a desviar-me da terra.
Lembrar que a terra também está aqui, na minha fala, no meu medo, no meu nó na garganta, no meu não saber.
❋
Não quero replicar rituais de outros lugares.
Quero fazer o luto da minha desconexão.
Quero reaprender a sentar-me com a terra sem exigir que ela me cure.
O meu trabalho é descer.
deCompor. Desaprender os modos do corte e isolamento.
Ficar com a tensão.
E dizer: não, não precisamos de mais.
Precisamos de voltar a sentir o suficiente.
E talvez, só talvez, quando deixarmos de fugir da ferida,
a própria terra nos sussurre:
“Chora comigo, não por mim.
Tu és o que me falta lembrar.”