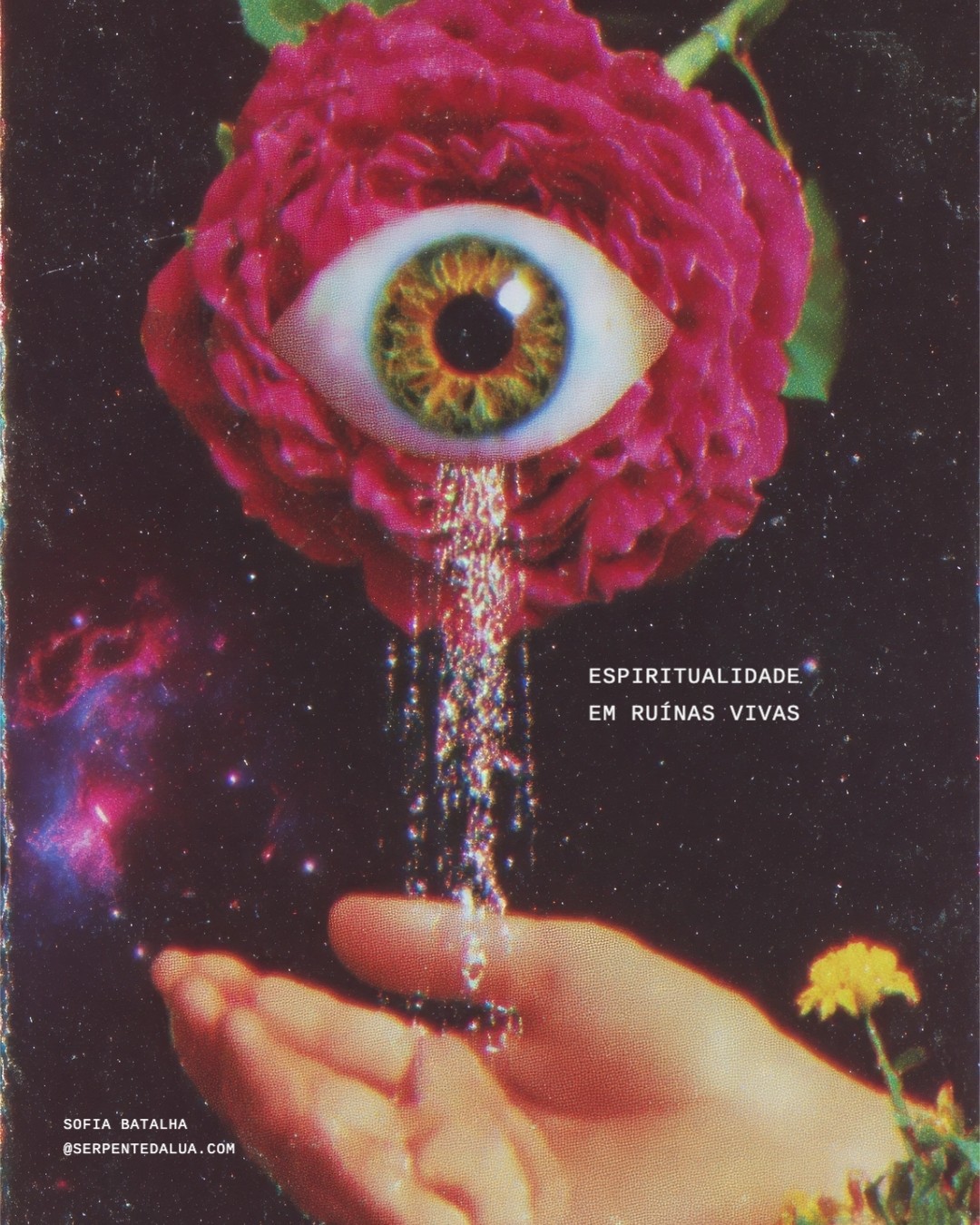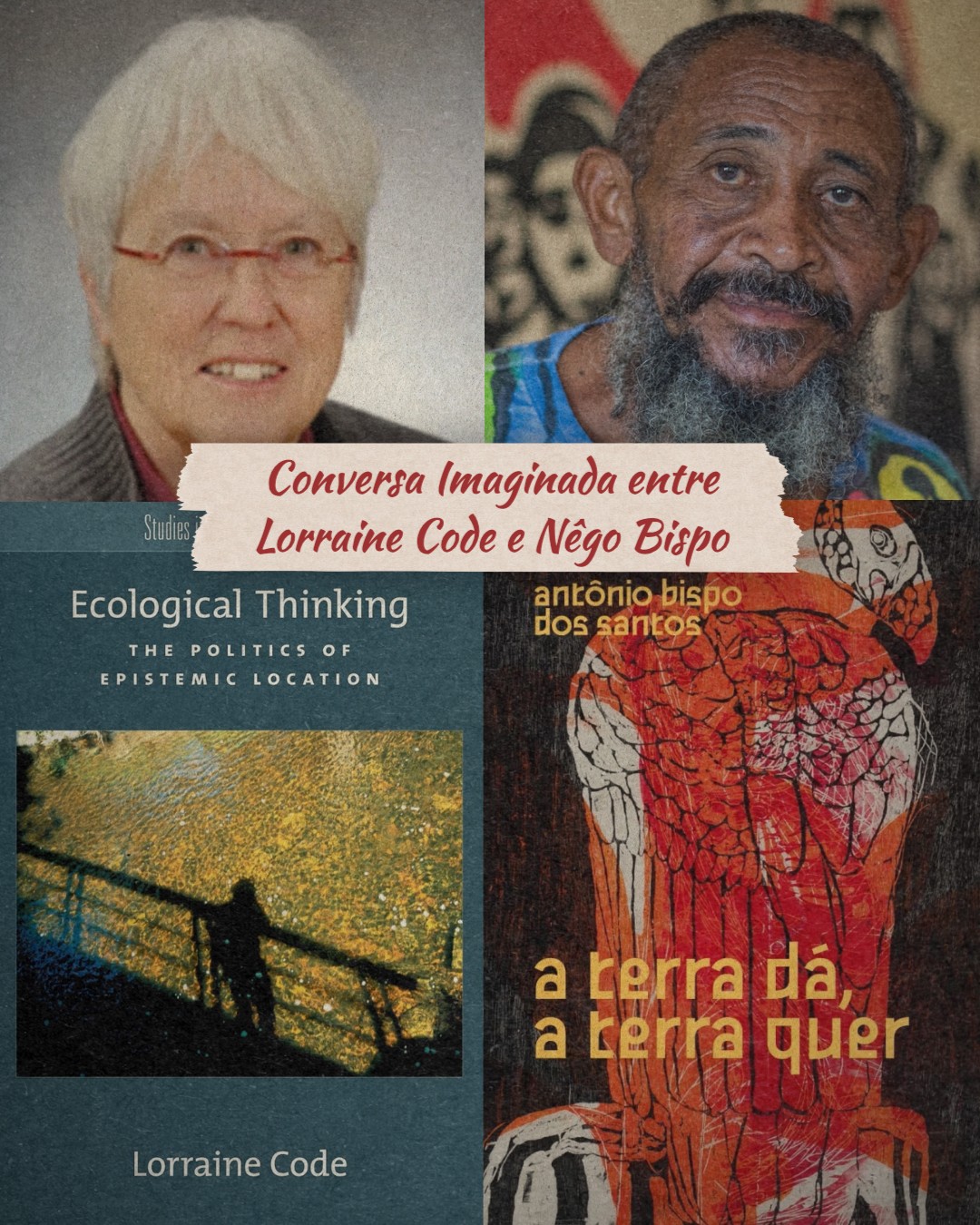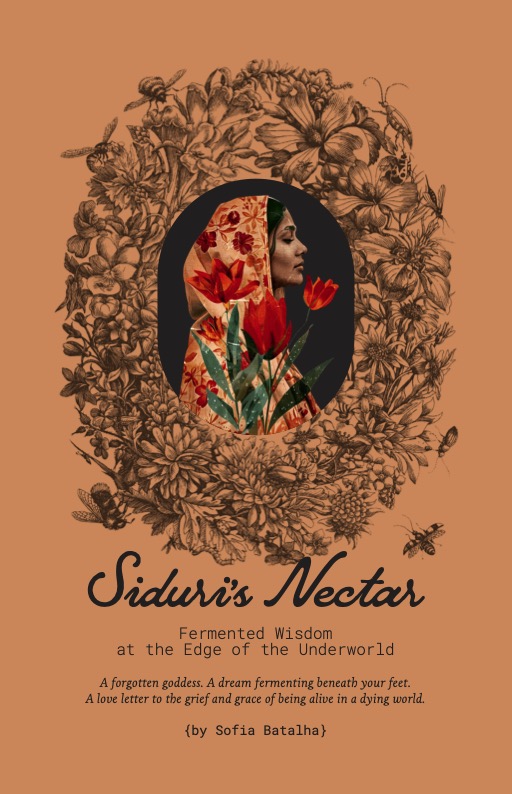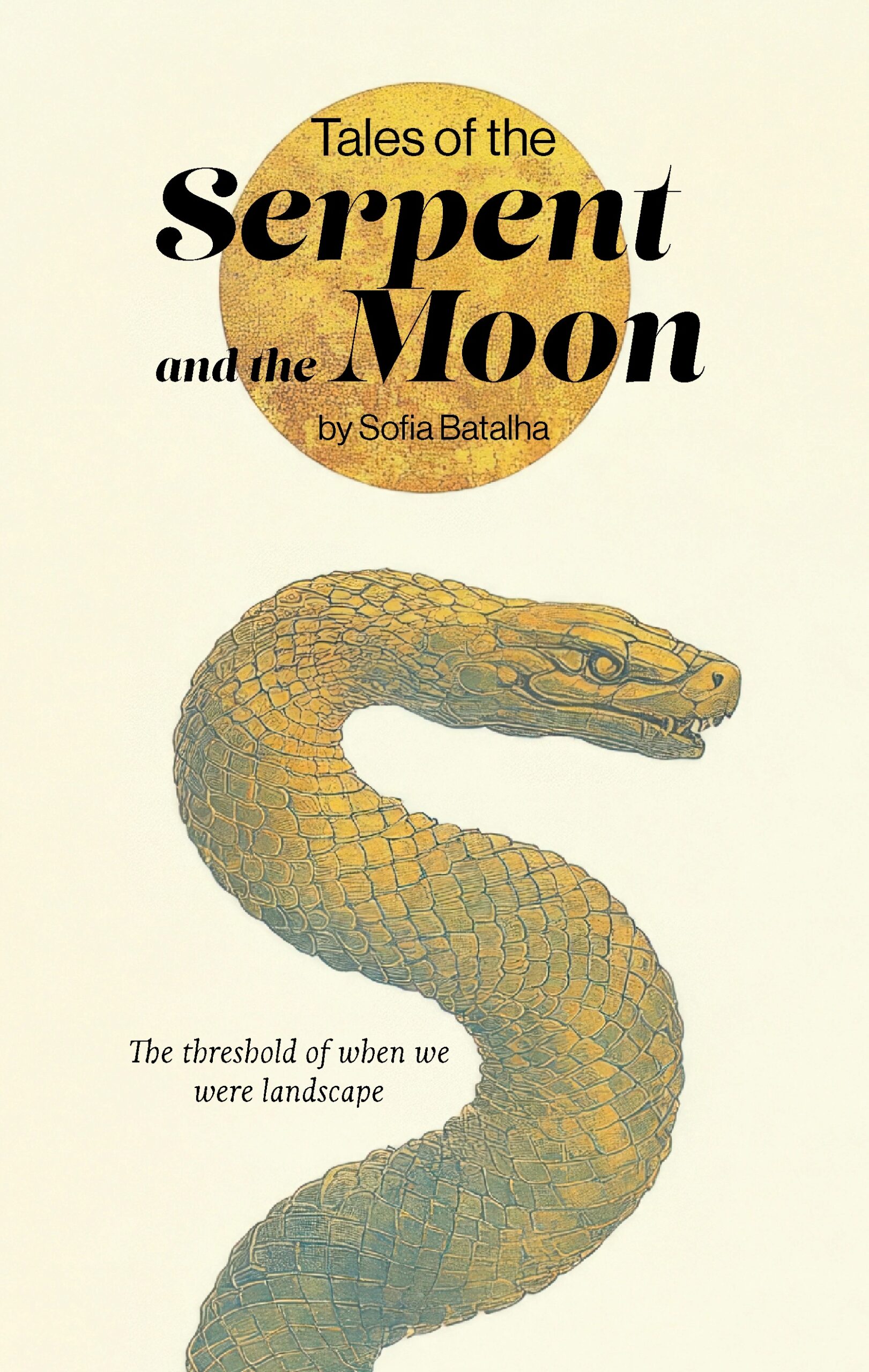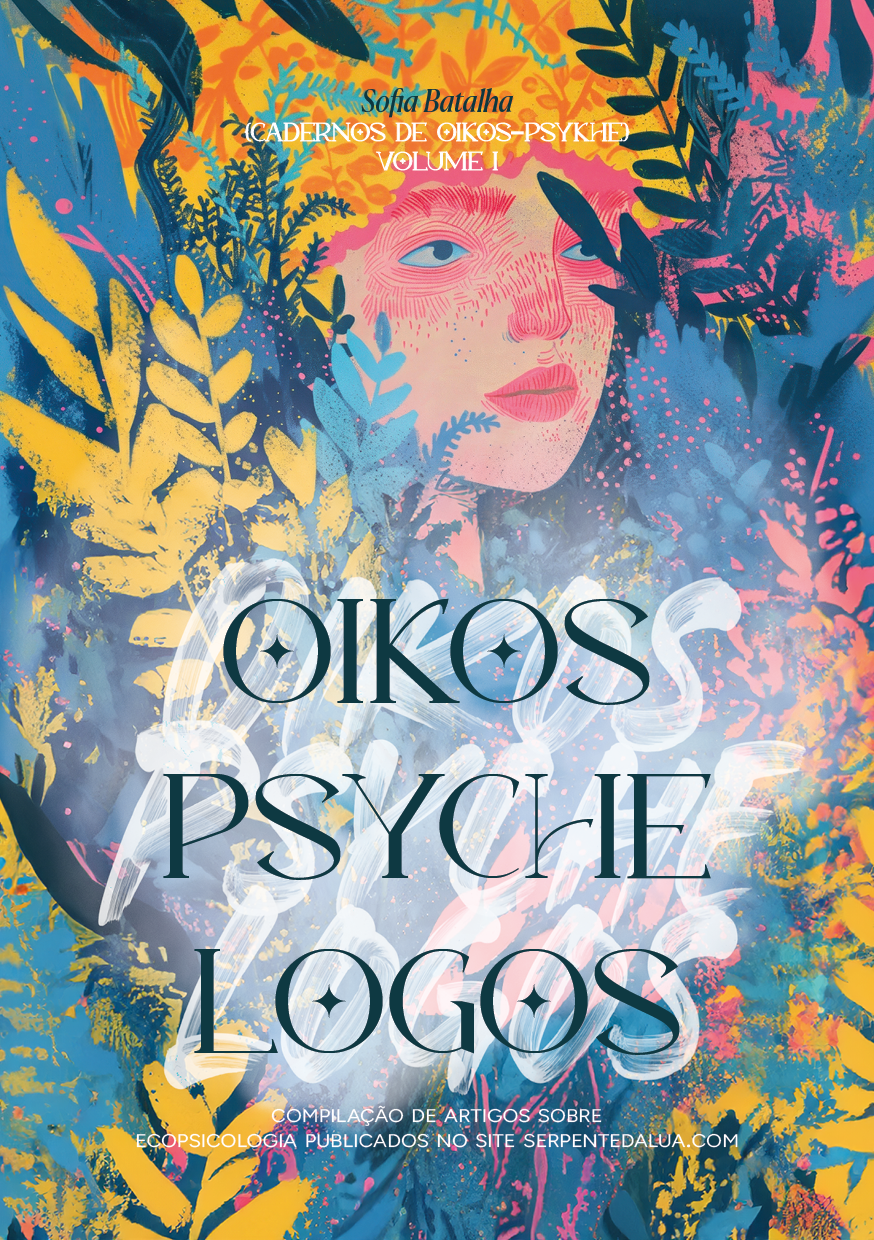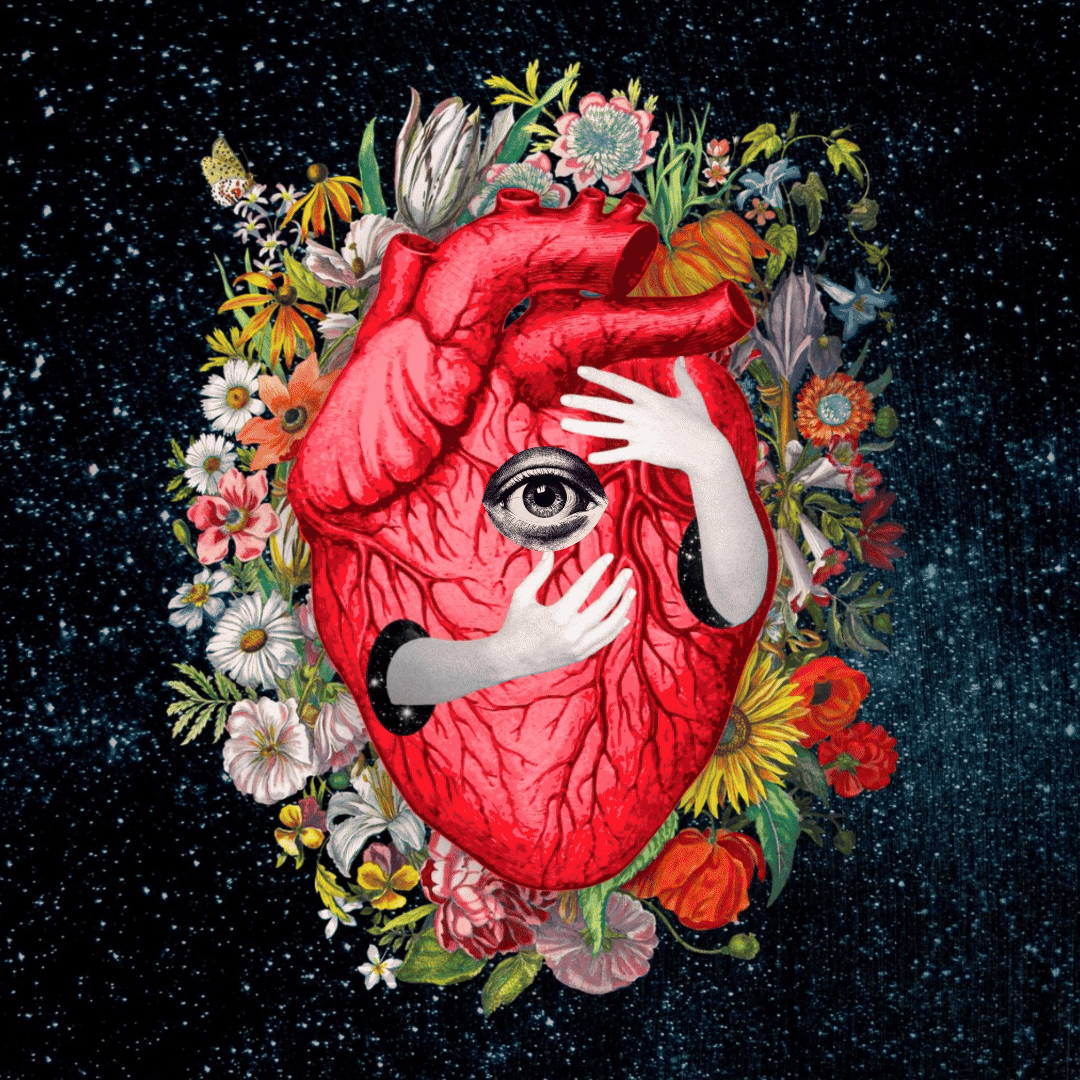TEMPO DE LEITURA – 7 MINUTOS
Coerção Silencia a Relação
Com grande cuidado, e desde o lugar situado da minha pele branca no Norte Global, quero tocar uma tensão viva e desconfortável sobre como as feridas coloniais, embora profundamente assimétricas, são costuradas por um mesmo fio histórico de dominação. O genocídio (e ecocídio) continuado das populações indígenas em tantos territórios invadidos é uma realidade ainda viva. As “escolas para índios” (1), onde se procurava apagar a cultura, a língua, a espiritualidade e o corpo indígena desde a infância, foram (e ainda são) instrumentos de uma lógica civilizadora de aniquilação do outro. Este não é um capítulo antigo, é presente, que continua hostilmente a erodir a nossa empatia coletiva. São corpos ainda vivos, comunidades inteiras que reclamam as suas cerimónias e cantos apesar do tormento e do apagamento.
Aqui, a nossa escuta, enquanto europeus, só pode começar com humildade radical, e com a recusa da comparação, porque não há simetria possível entre colonizadores e colonizados, entre quem deteve o poder e quem dele foi alvo.
Mas, neste mesmo fio histórico, sem aliviar nenhuma responsabilidade, também é necessário ver como a Europa ensaiou primeiro em si própria os mecanismos de domesticação e violência que depois exportou. Antes de colonizar o mundo, a Europa colonizou os seus próprios corpos e cosmologias, geração após geração. Lembro-me das Beguinas, no século XIII, mulheres que ousaram viver em comunidade, em liberdade, em práticas espirituais e económicas fora da tutela masculina. Foram perseguidas e violentamente silenciadas. Como tantas outras antes e depois, nas inquisições que retiraram propriedade às mulheres e tentarem extinguir a sua sabedoria local, aniquilando camponesas, parteiras, místicas. E as Beguinas abraçavam a “fé civilizadora”, a cristã, tal como os Cátaros no sul de França, ou Afonso Henriques, que massacrou os cristãos moçarabes e o seu bispo, aquando da Reconquista que fundou Portugal.(2)
Negar a violência estrutural com frases como ‘naquela altura era assim que se fazia’ (3) é uma deflexão colonial clássica que esvazia a responsabilidade, apaga o sofrimento real e perpetua a ideia tóxica de que a normalização histórica de um ato o torna legítimo, justo ou racional.
Não nos podemos continuar a dissociar da violenta força de subjugação e colonização desde a formação do reino de Portugal (e mesmo muito anterior, mas fica para outro artigo). Muito anterior às missões omnicidas ultramarinas, todas as dinastias reais tinham como valor máximo a conquista de mais e mais território, sempre para alimentar as casas reais europeias, deixando o povo miserável e sem recursos. Violência sobre violência, trauma sobre trauma, numa ecologia narrativa que glorifica o herói conquistador. Uma e outra vez. E o trauma torna-se cultura.
Esta violência interna não apaga nem redime a externa, mas revela uma profunda lógica de um trauma geracional de coerção e domínio, que cortou radicalmente a possibilidade de viver em parentesco, escuta e co-responsabilidade. Um trauma que se tornou política de Estado, império, missão, instrução e evangelização. Olhar para isto é reconhecer que a ferida da cisão da vida em relação e parentesco, em comunidade e dignidade, foi também sistematicamente imposta no centro daquilo que se tornaria o poder colonial.
O que se cristalizou neste processo foi uma estranha devoção à autoridade, que moldou profundamente a psique europeia. Quanto mais internalizada a ordem hierárquica, mais medo da liberdade, da autonomia e do valor intrínseco do outro. Terror da alteridade. A hierarquia é a única linguagem e possibilita dominar os recursos (humanos ou não-humanos).
A liberdade passou a soar como ameaça, à estabilidade, à obediência, à “civilização”. Crescemos numa pedagogia que nos ensinou a temer o que não pode ser controlado, a suspeitar do que é múltiplo, relacional, intuitivo ou inclassificável. Esta ferida não justifica a violência colonial, mas ajuda a perceber porque tantos, mesmo quando desejam reconectar-se à vida, ainda o fazem desde a lógica de conquista ou idealização hierárquica. Descolonizar exige, então, perceber também como fomos treinados a desconfiar da própria dignidade, a nossa e a dos outros, e como isso limita radicalmente a nossa capacidade de escuta, vínculo e reparação. Não digo como culpa ou falha pessoal, simplesmente por ser a realidade que conhecemos no corpo.
A minha pergunta ao longo dos anos tem sido: “Quem somos nós hoje, herdeiros de um sistema que não só gerou violência planetária, mas também nos amputou da capacidade de reconhecer o que é vida em relação?” Como poderemos, do lado europeu, começar a responsabilizar-nos, madura e contextualmente, sem que enfrentemos este vazio estrutural, o buraco psíquico que nos deixou órfãos de uma pertença não dominadora?
É preciso muito mais do que reconhecer o passado; é preciso descer ao subsolo das nossas próprias formas hegemónicas e normopáticas de conhecer e de ser mundo.
Porque mesmo os gestos de “reconexão” podem repetir o padrão extrativista, se não forem enraizados numa ética de responsabilidade e escuta. Não se trata de querer ser “como os outros povos” nem de resgatar rituais perdidos. Trata-se de ver com clareza que a violência cometida lá fora começou cá dentro. E que, para descolonizar alguma coisa, temos primeiro de descolonizar o nosso próprio chão, não como redenção ou pureza inocente, mas como parte do trabalho longo de deixar de ferir, ou falar por cima, narrando sobre o mundo e não com o mundo.
Talvez por isso insisto em cerzir contos eco-míticos, não como fuga ao real, mas como gesto radical de reconexão com as camadas esquecidas do sensível, do ecológico, do simbólico e do relacional. Os contos, como os que trago, não são remendos românticos.
São sedimentos vivos de memórias anteriores à hegemonia, onde a dignidade não se provava pelo domínio, mas pelo vínculo; onde o mundo não era matéria a ser conquistada, mas parente a ser escutado.
Nesse sentido, contar histórias é também desenterrar possibilidades amputadas, é dar corpo à imaginação como ferramenta de regeneração cultural, é restaurar camadas de pertença que não cabem na racionalidade colonial. É, talvez, recuperar os fios de uma escuta onde a Terra, os ossos, os ciclos e os mortos ainda sussurram. Cerzir contos, neste contexto, é um trabalho político de resistência lenta, não para criar um novo centro, mas para sair do pódio da centralidade humana, como proponho no Activismo Eco-Mítico. É regressar ao húmus, e talvez, encontrar aí o início de uma nova dignidade coletiva.
—
Notas de Rodapé:
(1) As Indian Residential Schools foram instituições criadas por Estados coloniais (principalmente Canadá, EUA e Austrália), em parceria com igrejas cristãs, para forçar a assimilação de crianças indígenas à cultura dominante europeia. Funcionaram do século XIX até finais do século XX (a última no Canadá encerrou em 1997), estas escolas sequestravam crianças das suas famílias, sob coerção ou ameaças legais, com o objetivo declarado de “matar o índio e salvar o homem”.
Estas crianças eram proibidas de contactar as suas famílias, falar a sua língua materna, de praticar a sua espiritualidade ou de manter qualquer ligação à sua cultura. Foram sujeitas a violência física sistemática, abusos sexuais generalizados, fome deliberada, trabalhos forçados, castigos cruéis e, em muitos casos, morte. Estima-se que milhares de crianças indígenas morreram nestas instituições, muitas vezes enterradas em valas comuns, sem qualquer notificação às famílias.
As consequências atravessam gerações: o trauma intergeracional é profundo e ainda muito vivo nas comunidades indígenas, manifestando-se em crises de saúde mental, perdas culturais e espirituais, ciclos de violência e adições, e desconfiança sistémica das instituições. Não se trata de um passado distante, mas de uma ferida ativa. Ignorar esta história é perpetuar a violência estrutural. Olhá-la de frente é um primeiro passo, mínimo, mas necessário, para qualquer gesto de escuta ou de reparação.
(2) “Ao bispo (cristão, moçárabe) da cidade, um ancião de muitos anos, cortam-lhe o pescoço, contra o direito divino e humano”, relata Osberno de Bawdsey na sua “De expugnatione Lyxbonensi”, sobre a Conquista de Lisboa aos Mouros.
(3) Há muitas expressões, ditas com aparente neutralidade ou até compaixão, que servem como mecanismos de deflexão da violência estrutural da modernidade. São frases que individualizam, relativizam ou romantizam processos históricos profundamente violentos, apagando responsabilidades e obscurecendo a crítica. Deixo uma lista de algumas, que podem ser pensadas como formas de negação simbólica, narrativa e afetiva, ao negarem ou suavizarem a violência estrutural da modernidade:
- “Mas naquela época era normal.” Normalização como desculpa, apaga o sofrimento e torna o contexto cúmplice.
- “Se não fosse isso, ainda estaríamos na Idade da Pedra.” Justificação evolucionária da violência e da dominação como “progresso inevitável”.
- “É graças a isso que temos tudo o que temos hoje.” Ideia de dívida civilizacional, usa o conforto atual como anestesia moral.
- “Foi tudo pelo bem do desenvolvimento.” Discurso do “sacrifício necessário”, frequentemente usado para justificar colonialismo, escravatura, extração e ecocídio. Como o sacrifício do Barroso na demanda de lítio europeia.
- “Temos de compreender o contexto da altura.” Utilização do “contexto” para relativizar ações violentas, sem reconhecer a agência dos oprimidos ou a continuidade da violência.
- “Mas também sofreram muito, coitados.” Simpatia que humaniza o colonizador e recentra a sua dor, sem responsabilização.
- “Faz parte da história da humanidade.” Naturalização do trauma, como se violência e dominação fossem destino e não escolha de toda a humanidade.
- “Agora é altura de seguir em frente.” Suposto apelo à reconciliação que exige silêncio e apaga processos de luto, escuta e justiça.
- “Mas também trouxeram cultura e educação.” Troca implícita entre dominação e “civilização”, perpetuando a ideia de superioridade eurocêntrica.
- “Todos os impérios fizeram o mesmo.” Comparação que dissolve a singularidade e massificação em grande escala da violência, impedindo a escuta situada e a reparação.
- “Eles também se matavam uns aos outros antes de nós chegarmos.” Estratégia de inversão da culpa, desresponsabilização moral e desumanização dos colonizados.
- “Agora também já têm direitos.” Narrativa da “graça concedida” que oculta a violência sistémica que ainda persiste.
- “Temos de perdoar e esquecer.” Apagamento simbólico da memória coletiva como forma de manutenção do privilégio.
- “Na altura, acreditava-se nisso.” Uso do “crença” para suavizar práticas de violência com o manto da ignorância ou da fé.
- “Mas houve boas intenções.” Justificação emocional da violência através das motivações, ignorando os efeitos concretos.
Estas frases são todas formas narrativas de fuga à responsabilidade coletiva e histórica. Podem parecer neutras ou até razoáveis, mas operam no tecido cultural como mecanismos de perpetuação da violência invisível e da hegemonia emocional da modernidade, que evita a escuta, o luto e a reparação.
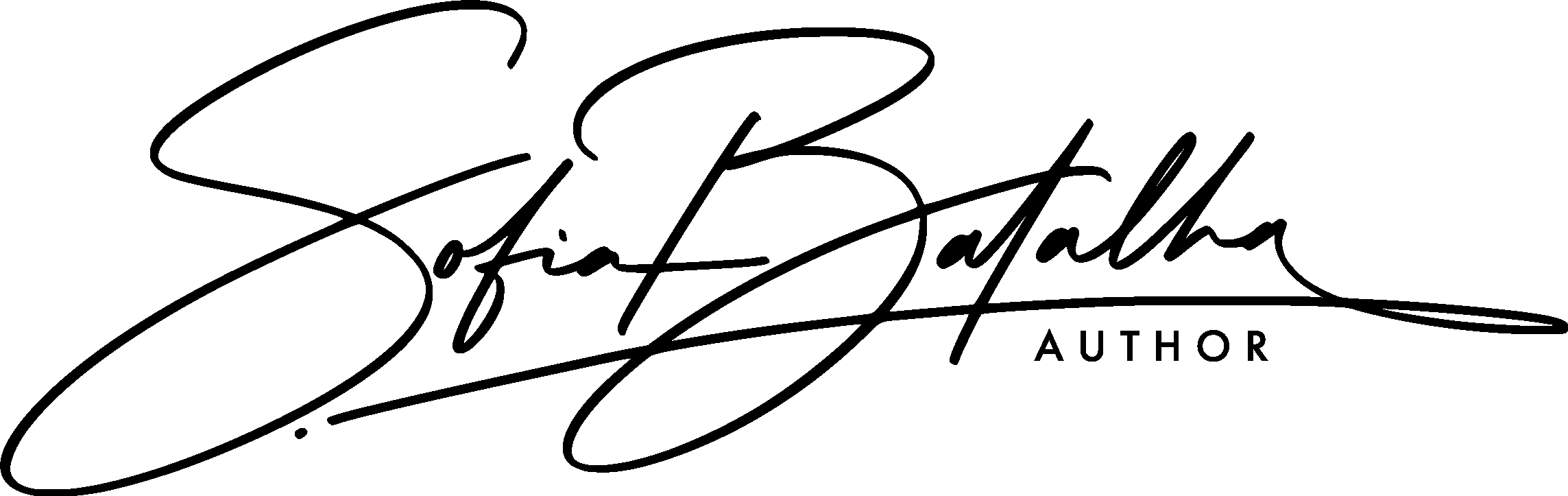
Ler artigos relacionados
{Ecopsicologia}
-

Coisas que Nunca de Diria
-

Se queres sentir a terra, vais sentir o luto
-

Coerção Silencia a Relação
-

Musas Domesticadas
-

Hiper Individualismo ou Individualismo Colectivo
-

Espiritualidade em Ruínas Vivas
-

Pontos Cegos
-

Conversa Imaginada entre Lorraine Code e Nêgo Bispo
-

A Transpiração da Imanência
-

Ciência Indígena
-

Problemas supercomplexos e pensamento rizomático
-

Ideias que o Mundo Moderno Esqueceu
-

De herói a composto
-

Uma Viagem pela História do Bem-Estar
-

Síndrome de Mudança da Linha de Base Psicológica
-

Sonhar com o Younger Dryas
-

Constelação de Relações
-

Temos de ir para dentro
-

À beira da floresta queimada
-

O Tear
-

Ecopsicologia Relacional
-

Rede de Indra & Rede de Arrasto
-

Da Dominação ao Cuidado
-

Cuidar como prática de rendição
-

Coisas que Nunca de Diria
-

Se queres sentir a terra, vais sentir o luto
-

Coerção Silencia a Relação
-

Musas Domesticadas
-

Hiper Individualismo ou Individualismo Colectivo
-

Espiritualidade em Ruínas Vivas
-

Pontos Cegos
-

Conversa Imaginada entre Lorraine Code e Nêgo Bispo
-

A Transpiração da Imanência
-

Ciência Indígena
-

Problemas supercomplexos e pensamento rizomático
-

Ideias que o Mundo Moderno Esqueceu
-

De herói a composto
-

Uma Viagem pela História do Bem-Estar
-

Síndrome de Mudança da Linha de Base Psicológica
-

Sonhar com o Younger Dryas
-

Constelação de Relações
-

Temos de ir para dentro
-

À beira da floresta queimada
-

O Tear
-

Ecopsicologia Relacional
-

Rede de Indra & Rede de Arrasto
-

Da Dominação ao Cuidado
-

Cuidar como prática de rendição