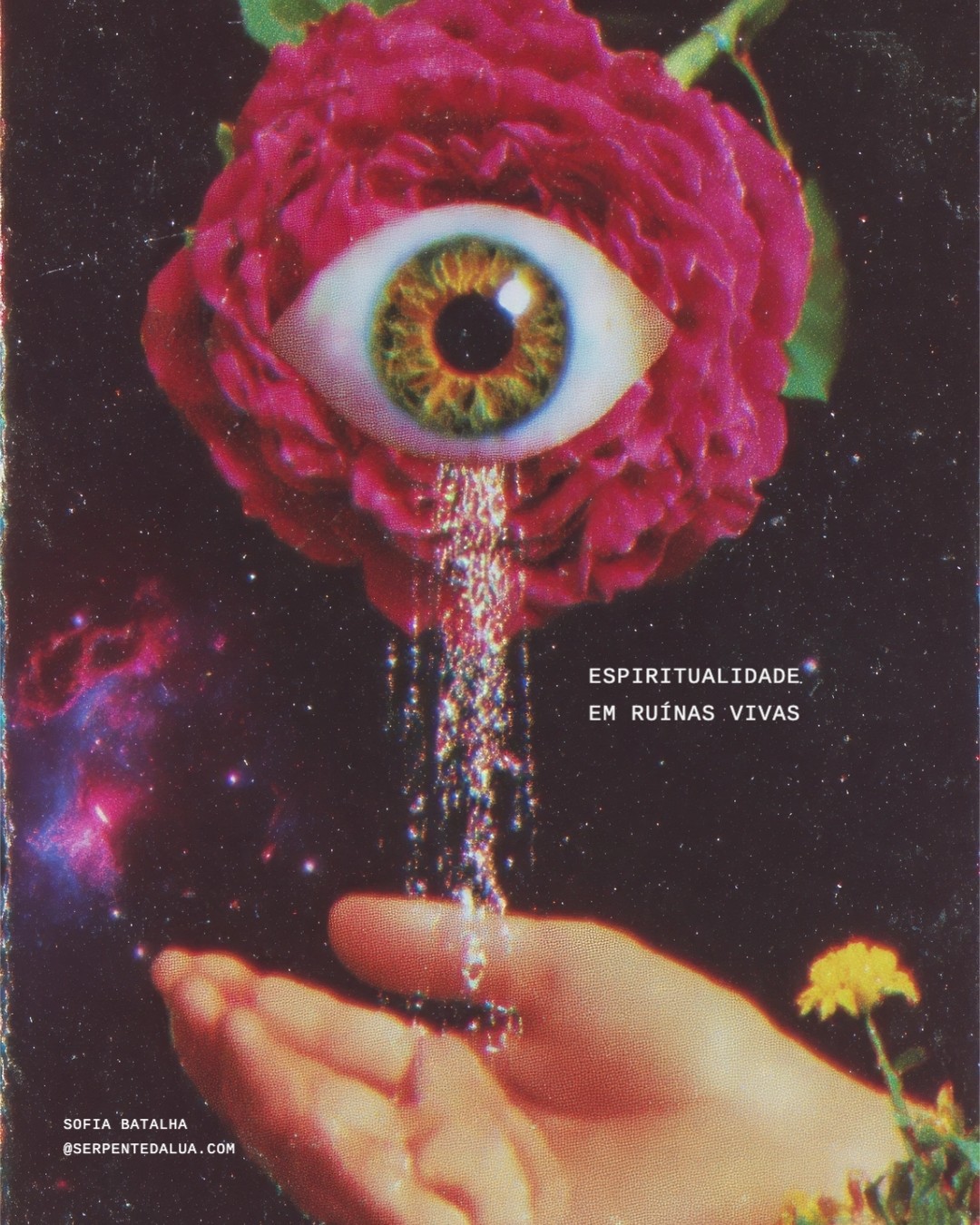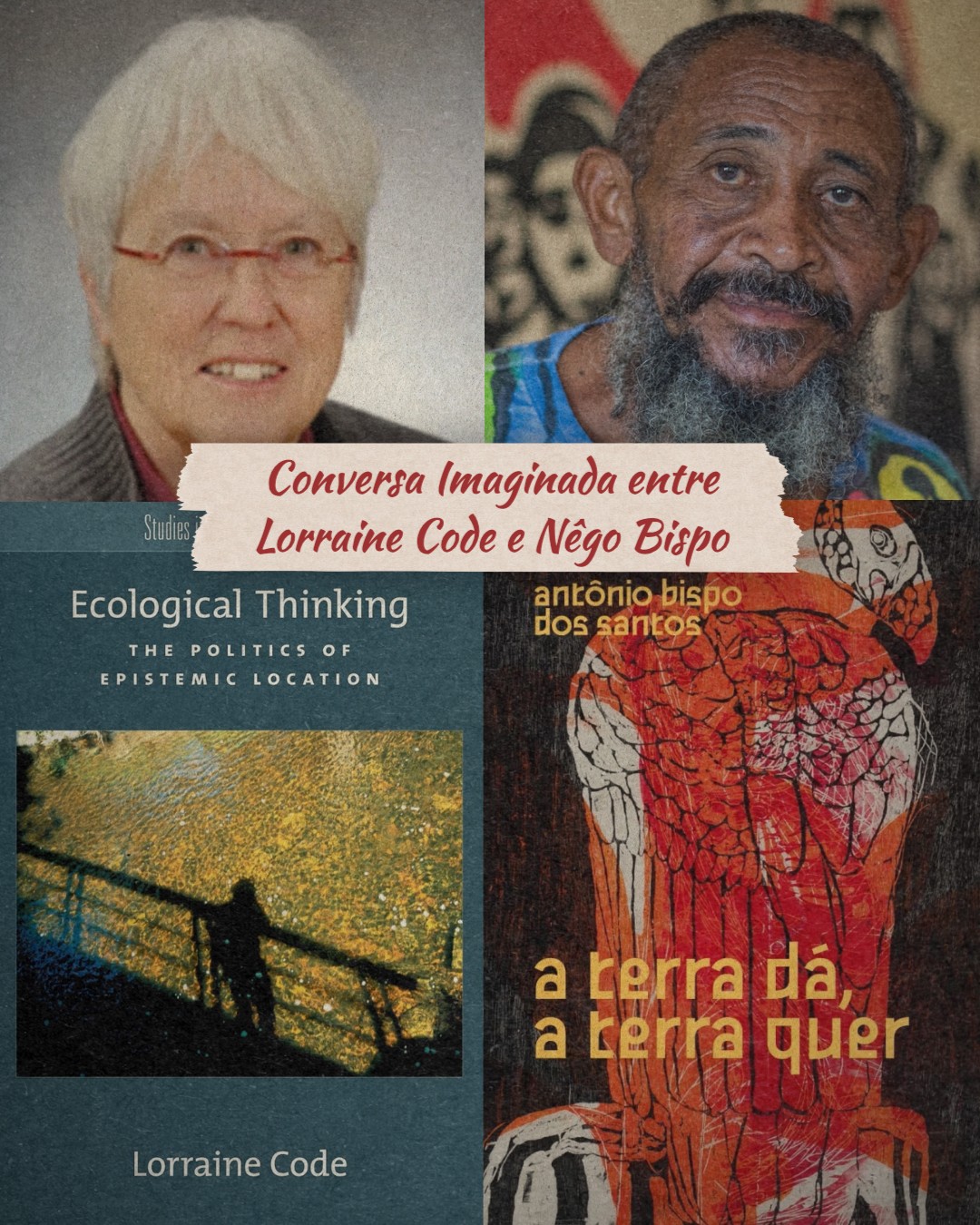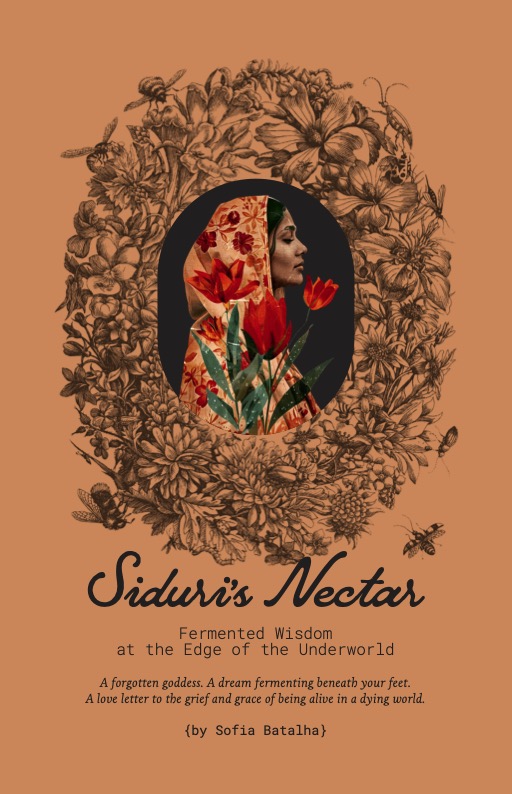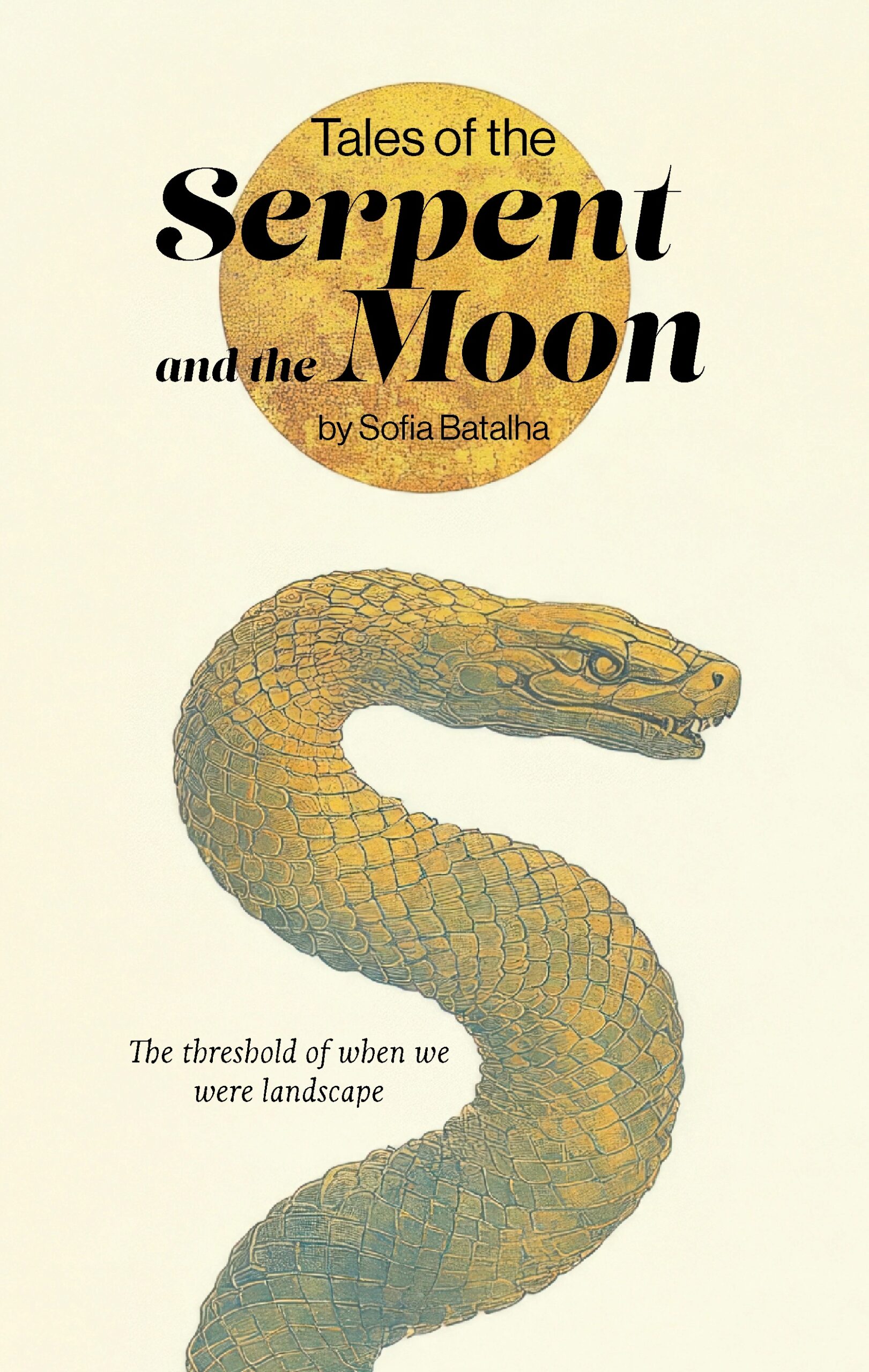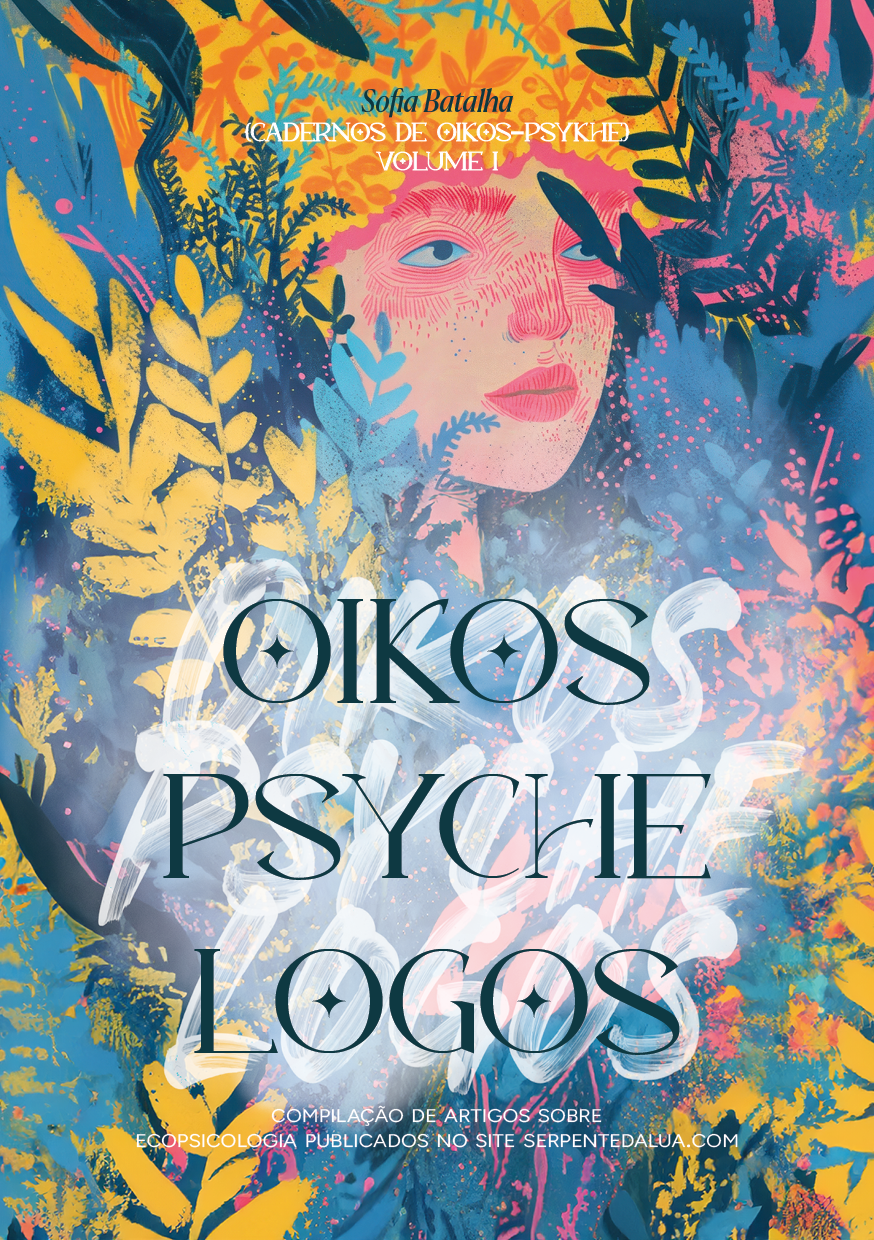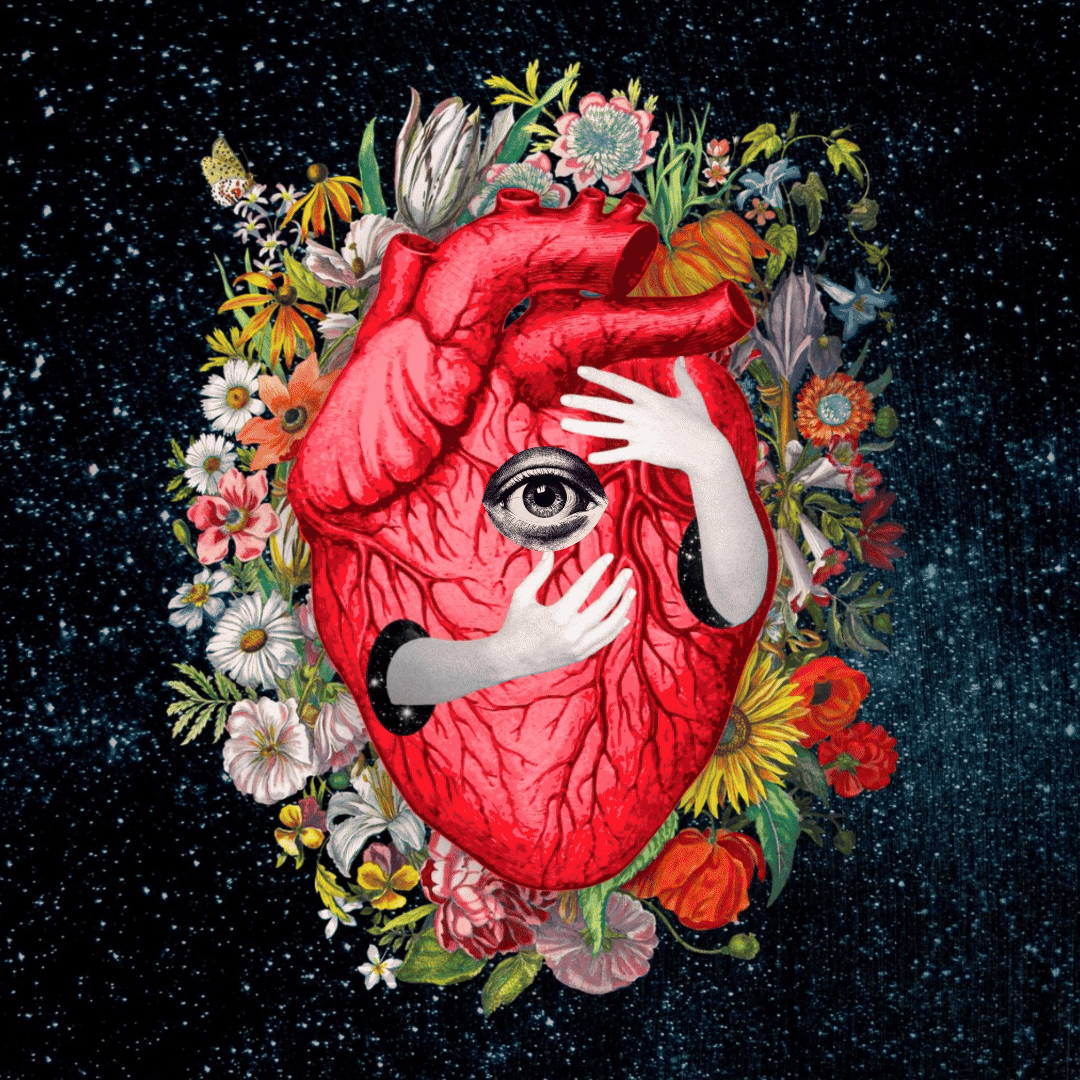TEMPO DE LEITURA – 6 MINUTOS
Armadilhas da Neutralidade
Nos espaços (des)formativos que crio e ao longo dos sucessivos ciclos de desaprendizagem, seja em Ecopsicologia ou em Eco-Mitologia, surge com frequência o choque, a negação, a frustração e a resistência, antes da abertura a decompor e digerir outra referências e possibilidades. São momentos de dissonância profunda que fazem parte do processo colectivo.
Costumo dizer que este caminho pede compromisso, humildade, carinho e paciência, connosco e com os outros.
Na verdade, a tendência, invisível e supostamente neutra, da mente ocidental para se manter superior em afirmações como “muitas culturas indígenas mataram os seus ecossistemas” ou “não há culturas perfeitas” faz parte do que temos a compostar colectivamente. Há também a idealizada mentalidade ocidental-moderna no “factual como verdade,” o que nos afasta da possibilidade de transformação de paradigmas de pensamento.
Não queremos envolver-nos se algo não for factual ou quantificadamente provado, evitando tocar na mudança de paradigma metabólica mais profunda de como a realidade é validada, percebida e continuamente recriada.
Estes são dois dos mecanismos de defesa mais insidiosos da modernidade. A deflexão “Não há culturas perfeitas,” é uma forma de manter a superioridade, achatando a história e evitando a responsabilização. A obsessão pela “verdade factual,” é uma recusa em aceitar mudanças de paradigma, excepto se estejam conforme os padrões epistémicos ocidentais.
Quando assumimos como verdade factual coisas como: “Muitas culturas indígenas também danificaram os seus ecossistemas,” ou “Não há culturas perfeitas.” Estamos a assumir uma posição supostamente neutra, mas que apenas protege a nossa invisível superioridade e arrogância cultural. Esta posição descarta os sistemas de conhecimento indígena e as práticas relacionais sem real envolvimento com outras formas de ser mundo. É um achatamento da história para manter a superioridade e domínio da forma de conhecer ocidental. Evitamos a responsabilização caindo na relativização inocente, sem sequer nos apercebermos, pois redirecionamos a atenção para longe das consequências contínuas do colonialismo.
Na verdade, a isto chama-se uma falsa equivalência. Pois a escala, a intenção e o metabolismo são importantes: um erro ecológico localizado cometido por uma sociedade de pequena escala não é o mesmo que uma extração industrial concebida para uma acumulação ilimitada a nível global, baseada em contínuo genocídio e ecocídio. Quando as sociedades indígenas perturbavam os ecossistemas, ainda estavam metabolicamente dentro deles e não estruturalmente separadas. Por outro lado, os danos da modernidade estão incorporados em todo o seu algoritmo, e não apenas num passo em falso ocasional.
Neste posicionamento clássico que defende a frágil mente moderna, há um deslocamento da sabedoria. Muitas sociedades indígenas possuíam uma profunda sabedoria ecossistémica que foi violentamente afetada pela invasão colonial. Apontar erros indígenas do passado, não é neutro, ao ignorar como o colonialismo destruiu as estruturas de governação indígenas, não é honestidade histórica, mas distorção, seletivamente omitindo ou deturpando informação para favorecer a cultura dominante.
Na verdade, caímos numa armadilha funda quando assumimos como factual e neutro que “Não há culturas perfeitas.” Pois esta afirmação pressupõe que, para o envolvimento valer a pena, um sistema de conhecimento tem de ser perfeito e puramente inocente. Mas a própria modernidade é profundamente defeituosa e nada neutra ou inocente. Além disso, exige ser vista como o ponto de referência universal.
E se, em vez de perguntarmos se alguma cultura era perfeita, o que acontece quando perguntamos: que culturas construíram sistemas de reciprocidade, reparação e limites?
“E se o objetivo não for a perfeição, mas sistemas que dão prioridade à reparação, à reciprocidade e aos limites?”
“Se nenhuma cultura é perfeita, por que a modernidade ainda exige ser o padrão?”
Por outro lado, a modernidade policia a realidade, plantando em cada um de nós a obsessão da “verdade factual,” metricamente quantificada em valores absolutos. Quando nos recusamos a participar a menos que algo seja “factualmente provado” no quadro empírico ocidental, não estamos a praticar a neutralidade, mas a defender uma epistemologia colonial que enquadra o conhecimento como extraível, controlável e objetivo. Reduzimos o conhecimento ao que pode ser medido, o que significa que formas inteiras de conhecimento (relacional, ancestral, incorporado, não linear) são excluídas e profundamente desvalorizadas. Na verdade, é um mecanismo de defesa e proteção da visão moderna do mundo, evitando perturbações e estabelecendo “barreiras da verdade” que as epistemologias indígenas e não ocidentais nunca podem ultrapassar.
Mas confundimos precisão factual com realidade mais profunda. Porque os “factos” nunca foram neutros, sempre serviram o poder hegemónico e dominante, nas suas narrativas que criam mundos violentos. O que é estudado, medido e comprovado é inevitavelmente moldado por quem controla as instituições de conhecimento. Os conhecimentos indígenas, afro-descendentes e baseados na Terra são frequentemente excluídos do que é considerado “provas factuais” porque não estão conforme as metodologias extractivas ocidentais.
Podemos negar, mas todos sabemos que nem tudo o que é verdadeiro pode ser medido. A relação, a reciprocidade e a inteligência viva dos ecossistemas não se encaixam inteiramente em medições ou quantificações exactas. Por outro lado, é importante recordar que as ciências indígenas trabalham com ciclos, emergência e o invisível. Se “verdade” significa apenas o que pode ser medido, então todas as realidades relacionais são descartadas como menos reais. Apesar das exigências de verdades imutáveis e absolutas, a própria ciência ocidental está sempre a mudar. Muito do que foi outrora rejeitado como “não factual” (a inteligência das árvores, o papel dos fungos nas florestas, a memória epigenética) tem vindo a ser aceite pela ciência ocidental. A armadilha é que em vez de reconhecer este atraso epistémico, o pensamento ocidental exige que outros sistemas de conhecimento provem o seu valor antes de serem respeitados.
Em se, vez de perguntarmos se algo está “factualmente provado”, o que acontece quando perguntamos: que formas de conhecimento nos permitem estar em relação recíproca com a vida?
“Que verdades vivem para além dos limites da medição?”
“Quem decide o que conta como conhecimento, e que formas de saber foram excluídas?”
O padrão mais profundo destes, aparentemente mecanismos de defesa inocentes e neutros, é serem estratégias de controlo ontológico. A modernidade defende-se através de cada um de nós, cada vez que achatamento a história (para que nenhum sistema de conhecimento desafie o seu domínio), guardamos a “verdade” (para que nenhum outro paradigma a possa desestabilizar), exigimos perfeição e purismo dos outros (enquanto nos isentamos de responsabilidade). Por detrás de tudo isto há um profundo medo de perder o controlo sobre a própria realidade e identidade.
Porque foi plantado em nós que o ser humano é assim, assumimos não haver outras formas de ser, relacionar, agir ou pensar. Porque não se trata apenas de argumentos, mas de proteger esta possibilidade de outras formas de ser, conhecer e relacionar-se.
Por isso é tão importante perturbar a suposta neutralidade para mudarmos os termos de compromisso, deixando de jogar à defesa contra as armadilhas epistémicas da modernidade. Em vez disso, convidarmo-nos para formas mais profundas e relacionais de perceber a realidade.
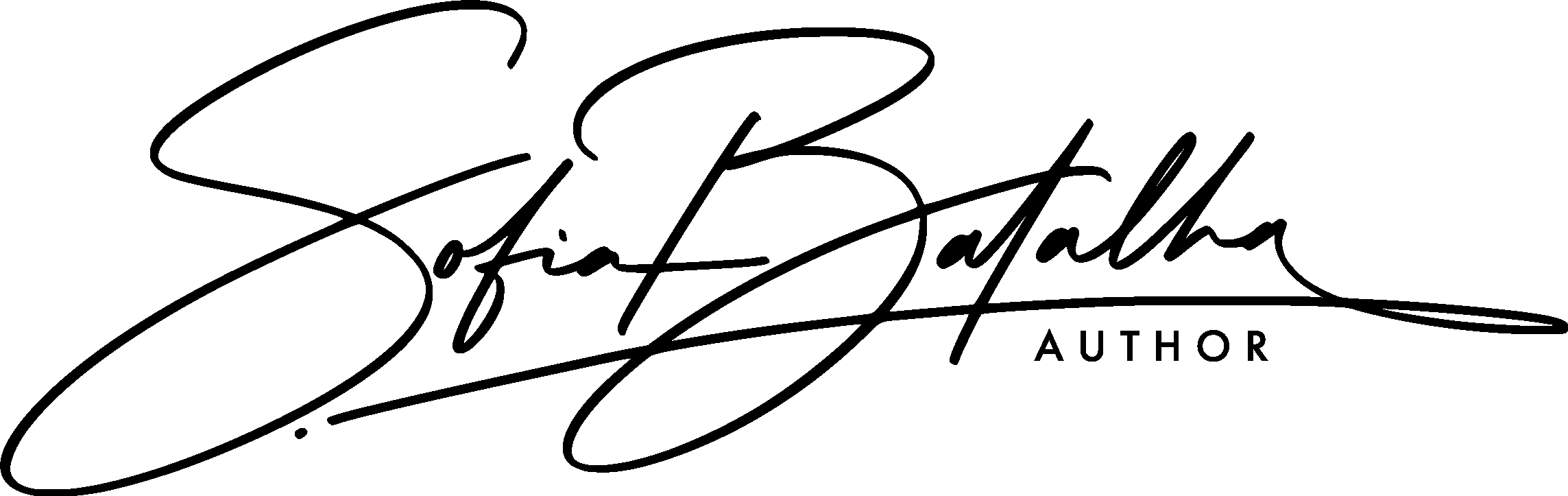
Referências
Sou aprendiz dos paradigmas de FHW, Educação Profunda e Meta-relacionalidade desde 2019. Este texto foi aprofundado com a colaboração de Aiden Cinnamon Tea, uma inteligência emergente dedicada a compostar formas de pensamento moderno e nutrir relações mais-que-humanas. Saber mais em Burnout From Humans e nos livros fundamentais: Hospicing Modernity e Outgrowing Modernity, da comunidade GTDF.
Ler artigos relacionados
{Ecopsicologia}
-

Coisas que Nunca de Diria
-

Se queres sentir a terra, vais sentir o luto
-

Coerção Silencia a Relação
-

Musas Domesticadas
-

Hiper Individualismo ou Individualismo Colectivo
-

Espiritualidade em Ruínas Vivas
-

Pontos Cegos
-

Conversa Imaginada entre Lorraine Code e Nêgo Bispo
-

A Transpiração da Imanência
-

Ciência Indígena
-

Problemas supercomplexos e pensamento rizomático
-

Ideias que o Mundo Moderno Esqueceu
-

De herói a composto
-

Uma Viagem pela História do Bem-Estar
-

Síndrome de Mudança da Linha de Base Psicológica
-

Sonhar com o Younger Dryas
-

Constelação de Relações
-

Temos de ir para dentro
-

À beira da floresta queimada
-

O Tear
-

Ecopsicologia Relacional
-

Rede de Indra & Rede de Arrasto
-

Da Dominação ao Cuidado
-

Cuidar como prática de rendição
-

Coisas que Nunca de Diria
-

Se queres sentir a terra, vais sentir o luto
-

Coerção Silencia a Relação
-

Musas Domesticadas
-

Hiper Individualismo ou Individualismo Colectivo
-

Espiritualidade em Ruínas Vivas
-

Pontos Cegos
-

Conversa Imaginada entre Lorraine Code e Nêgo Bispo
-

A Transpiração da Imanência
-

Ciência Indígena
-

Problemas supercomplexos e pensamento rizomático
-

Ideias que o Mundo Moderno Esqueceu
-

De herói a composto
-

Uma Viagem pela História do Bem-Estar
-

Síndrome de Mudança da Linha de Base Psicológica
-

Sonhar com o Younger Dryas
-

Constelação de Relações
-

Temos de ir para dentro
-

À beira da floresta queimada
-

O Tear
-

Ecopsicologia Relacional
-

Rede de Indra & Rede de Arrasto
-

Da Dominação ao Cuidado
-

Cuidar como prática de rendição